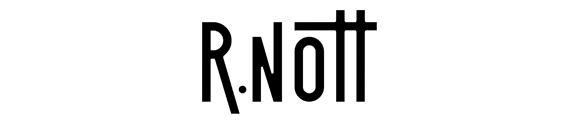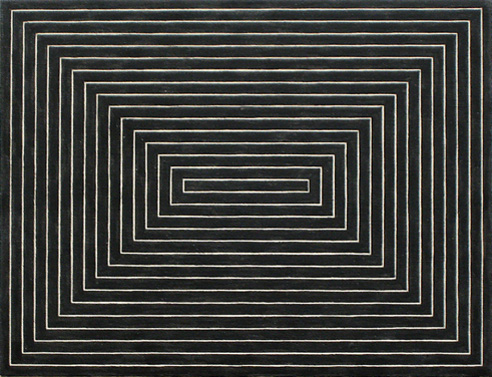[vc_row][vc_column][vc_column_text]
“A compreensão de rebeldia, originalidade e liberdade também encontra definições diversas e está limitada às barreiras do tempo. Dado o exposto afirmamos: nada é por si só!”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
O processo de conquista da autonomia da arte e dos artistas frente ao poder autoritário das instituições religiosas e do Estado, alicerces da arte ocidental, que, por ironia ou interesse torpe funcionaram de forma ambivalente na manutenção da produção cultural, trazem em seu bojo o fomento para a criação, o desenvolvimento e a liberdade nas escolhas e funções das práticas artísticas, além de atuarem como sensores em potencial das capacidades criativas ao longo dos séculos. Desta forma, podemos imaginar que o valor e as possibilidades da obra de arte estavam amarradas à representação de interesses religiosos e/ou político ideológicos que a obra conseguisse assegurar em sua materialidade, ou no processo de seu feitio. A arte que representa “bem” elementos que capilarizam pontos doutrinários e/ou dogmáticos, de ambas as partes interessadas, consuma a “boa” arte, e nessa continuidade as práticas coletivas se impõem para além dos valores intrínsecos ou extrínsecos que possam estar contidos nos artefatos.
A obra de arte existe no interior de uma convenção. Pode não haver nenhum valor em sua materialidade, mas o ritual e a sanção promovem a convenção que intensifica seu valor, da mesma forma que um juiz converte um réu em culpado ou que um rei converte um plebeu em um nobre, as linhas de força que sustentam uma obra de arte convertem-na de artefato comum a obra artística. Nessa perspectiva, a regência múltipla é oração, e as práticas coletivas correspondem a finalidade de capacitar, metafisicamente, objetos à apreciação. Assim, as obras alcançam valor econômico e idoneidade por meio da atribuição.
Não é de se espantar se enxergarmos uma estrutura claustrofóbica proveniente de uma arquitetura penitenciária provedora de sujeito e objeto, artista e mecenas, público e obra, como queiram, pois a arte sempre foi passível de controle e censura, mas também foi prática de rebeldia e resistência.
Algumas práticas podem ser compreendidas como atos de resistência, porém, modestamente, outras podem ser entendidas como ações de vanguarda devido ao teor de rebeldia. Contudo, todas compõem um tecido mágico repleto de anedotas que modelam um desfazer pela redescrição, oferecendo um outro vocabulário para desenhar caminhos distantes de uma serventia voluntária. Uma busca pela autonomia do artista, tal como Penélope, numa arte inspirada pelo riso e subversão, que desfaz à noite a tapeçaria que os teólogos, sábios e filósofos urdiram na véspera – para se utilizar de uma metáfora de Milan Kundera –, alguns artistas tem igualmente negado dar ouvidos à palavra de ordem, fazendo frente a esse mundo que interpola incongruências e paradigmas que ofuscaram intenções ao transmutar o interesse em altruísmo, toldando todo o seu peso sistemático sobre pontos de interseção com as produções artísticas.
Assim como Penélope que desfaz o seu destino, tal desfazer é efetuado pela redescrição, fornecendo vocabulário para falarmos além das nossas deliberações temporais, pois a atitude de classificar e limitar como um gênero menos flexível atende apenas a julgamentos ideológicos que buscam distinguir antes de compreender. Negar o autoritarismo foi uma prática entre artistas e artesãos, uma atitude em conjunto, que perpassa os séculos. Não foi uma ação motivada para incrementar um masoquismo social: onde os iguais lamentavam o fato de o mundo impor barreiras herméticas, nem em transformar a resistência em uma forma de aliviar a consciência. Mas, sim, uma questão de necessidade.
Cumpre informar que a liberdade do artista não opera no vácuo, mas esbarra em desenhos bem delineados, o artista elabora sua obra perpassado pelo contexto de sua época: nenhum artista é uma ilha, e os objetos perpassam por conceitos, tradições e nexos. Por fim, vale lembrar, os artistas anseiam por fama, lucro e pelo gozo da produção, o elogio da crítica e do público, de tal forma que podemos imaginar que nenhuma obra tenha sido realizada desinteressadamente, até porque o artista defende seu interesse no mercado, pois isso implica na sobrevivência de sua obra, assim como a de si próprio.
Temos que ter em mente que o trabalho produzido de maneira mais restrita foi tradição instaurada, assim como quem deveria ser ou não ser reconhecido como artista. Da mesma forma, a compreensão de rebeldia, originalidade e liberdade também encontra definições diversas e está limitada às barreiras do tempo. Dado o exposto afirmamos: nada é por si só!
No século XII, para iniciarmos nossa premissa de revisão na história, não fazia diferença se era homem ou mulher que produzia as obras, e essa época está longe do momento em que o lugar da mulher será de objeto do autor criador da obra. É difícil identificar os autores das obras dessa época por não serem assinadas, assim como saber quantas mulheres trabalhavam nas guildas ou corporações de ofício. Mas era sabido que muitas mulheres trabalhavam em conventos, abadias, assim como recebiam educação e formação. Linda Nochlin publicou Why Have There Been No Great Woman Artist em 1960, onde afirma que os sistemas de guildas, ofícios e corporações levaram, progressivamente, à exclusão de todas as mulheres das profissões. Um dos fatores que culminou na exclusão das mulheres foi possivelmente o fato de que elas não puderam herdar as guildas de seus esposos ou de seus familiares, da mesma forma em que foi negado espaço para elas nas práticas das artes liberais. (NOCHLIN, 1960).
Entre o início do século XVII e o fim do XIX, os van Os, família notória e tradicional de artistas holandeses, tinha homens e mulheres que aprenderam e ensinaram o ofício da pintura por gerações, gerando herdeiros do ofício na família no decorrer dos séculos. No entanto, o número de mulheres artistas do século XV até XVIII é muito pequeno, e muito se pesquisa sobre essa ausência na atualidade; a partir das décadas de 1960 e 70 há uma tendência em resgatar a importância do trabalho das mulheres artistas. Como um destes “resgates” podemos citar a obra da artista renascentista Sofonisba Anguissola (1532-1625), que teve grande importância em vida.
Ainda sobre as mulheres artistas, vale informar que a barreira da consumação de sua carreira constitui-se uma fronteira moral, na qual mulheres não poderiam aprender arte, em vista que, no século XV, os aprendizes eram mandados ainda muito jovens para morar durante anos com os mestres e aprender diversas coisas. Inclusive era comum haver aulas com modelos nus. Assim sendo, a carreira artística das mulheres era duplamente proibida, primeiramente porque não era aceitável que uma jovem mulher morasse na casa de um “estranho”, e segundo porque as mulheres foram proibidas de explorar técnicas de desenhos em que se estudasse os corpos de homens nus. No entanto, filhas de artistas ou mulheres que gozassem de uma situação privilegiada puderam subverter esse dissabor moral e espalhar a sua arte, tornando-se, por fim, artistas.
No século XIII, idade média tardia, havia um funcionamento de corporações de ofício, que eram responsáveis pelo aprendiz e pelas encomendas das obras. Ser artista estava ligado ao trabalho mecânico. Sendo assim, o artista irá ficar, até pelo menos a consolidação do humanismo, submisso à vontade de quem encomenda a obra. Conforme comprova a carta de Filippo Lippi (1409-1469)¹ a Giovanni di Cosimo de Medici (1421-1463). Na carta, Filppo Lippi se queixa de ter sido acusado de trapaceiro por ficar para si com os materiais que eram enviados junto com as instruções de como deveria proceder o artista.
Sabe-se que foi mais do que comum a prática de artistas em “engordar” o valor de uma obra adicionando pedras preciosas, ouro ou certos pigmentos preciosos às telas. O valor da obra de arte passa a ser objetivo, o fato dos artistas e das guildas utilizarem certos pigmentos era uma forma de atribuir o preço além da representação. Essa era uma forma em que os artistas tentavam valorizar o seu trabalho, gerar lucro, num respiro de liberdade frente a uma iconografia canônica e, às vezes, castradora. Encarecer obras com materiais constitui uma conquista da tradição em busca da autonomia e valorização dos artistas, em vista que eles não podiam escolher os materiais para produzir as obras nos séculos passados. O artista era pago pelos materiais que usava. Com o passar dos anos, conseguiriam que mecenas e pessoas que encomendavam as obras reconhecessem as suas habilidades, e pagassem por isso.
No século XV, responsáveis pelas grandes navegações e ricos em ascensão puderam financiar artistas. Se antes os artistas se submetiam às regras da corporação de ofícios, e consequentemente às regras do eclesiástico, no renascimento eles tiveram que se submeter a um novo patrão. Com o humanismo do século XVI, a técnica empregada nas obras começa a ficar em segundo plano e o pensamento, como nas artes liberais, ganha espaço e admiração. Assim, podemos perceber que uma forma autônoma do pensar artístico se instaura. Eles, os artistas, faziam frente à igreja, produziam obras de caráter profano, mitológico etc., e não seguiam por completo a cartilha da igreja ou daqueles que encomendavam a obra. Desta forma, não era mais Deus que estava no centro do universo, mas sim o homem.
A transformação do status do artista contra a condição de artesão liga-se ao fato de que a pintura deveria ser considerada uma arte intelectual e liberal. Na esteira dessa discussão, os artistas levantaram muitos argumentos: de que o mundo havia sido pintado por Deus conforme a sua imagem; de que São Lucas evangelista, que havia sido também pintor, o que deveria conferir uma maior dignidade à classe; e por fim, Santa Verônica tinha contribuído para pintar o rosto de Cristo (GREFFE, 2013). Tudo isso corrobora a prerrogativa de que o artista não era criatura do criador, mas criador de criaturas.
O reconhecimento da função social dos artistas se liberou das qualidades do trabalho manual. Botticelli, odiado e desprezado por Leonardo da Vinci (1452-1519), na Natividade Mística, sua única obra assinada, explicita seu desejo: “Eu, Alessandro, exultei este quadro no final do ano 1500 em uma Itália atormentada pelas atribulações […] inspirando-me no capítulo XI do Apocalipse de São João, que relata o décimo infortúnio, ou seja, a soltura do diabo, que durou três anos e meio para que fosse acorrentado, então ele ai será obrigado [capítulo XII] e veremos [ele enterrado] como na imagem.” (GOMBRICH, 1972, p. 31-81).
Possivelmente Botticelli estava sob influência de Girolamo Savonarola (1452-1498), um iconoclasta clássico, dominicano e pregador renascentista que ficou conhecido por suas profecias apocalípticas, e também pela destruição de objetos de arte. Botticelli, na obra A Natividade Mística, não usou como suporte a madeira, como de costume, mas a tela, talvez pela mensagem perigosa contida em sua pintura, pois a tela poderia ser enrolada e facilmente escondida, e é provável que ele tenha visto vários de seus quadros serem queimados pelos evangelistas fiéis à causa defendida por Savonarola. Cita-se ainda que a pintura de Botticelli foi mostrada ao público apenas no século XIX, vindo à luz trezentos anos depois de ser escondida.
Conforme os séculos seguiam, escultura e pintura cresceriam em sua honraria. Sabe-se que alguns reis foram até pintores antes da morte, e que nem mesmo papas se isentariam desta incumbência, como o cardeal Júlio II (1443-1513) junto a Rafael Sanzio (1483-1520). Cerca de vinte anos após a morte de Leonardo da Vinci, o rei Francisco (1494-1547) teria falado, segundo comentou o escultor Benvenuto Cellini (1500-1571): “Nunca nasceu no mundo outro homem que soubesse tanto quanto Leonardo, nem tanto (por seus conhecimentos) de pintura, escultura e arquitetura, mas por ele ter sido um grande filósofo.” Cita-se ainda que as características intelectuais das pinturas podem ser interpretadas pelo fato de, nos séculos XVI e XVII, em que Ticiano Vecellio (1473/1490-1576), Diego Velásquez (1599-1660) e Bartolomé Murillo (1617-1682), dentre outros artistas, produzirem autorretratos com o pincel na mão, mas jamais enquanto pintavam, apenas pensando na obra, dando provas de que a execução é menos importante do que a concepção.
Um dos artistas que auxiliou seus pares nesta empreitada de sair das amarras da arte como uma atividade mecânica foi El Greco (1541-1614), que elevava quatro vezes o preço da obra que havia sido sugerida por quem fazia a encomenda. Os que se opunham ao preço elevado da obra queixavam-se de que El Greco não tinha sido fiel às escrituras e ao cânone eclesiástico, solicitando, às vezes, que ele eliminasse algumas figuras do quadro, inclusive os rostos femininos.
A partir do século XVI, os artistas adquirem maior autonomia, impondo suas escolhas, numa época em que os pintores se situavam no mesmo nível dos pensadores e filósofos. Isso não é uma associação com a pintura A Escola de Atenas de Rafael Sanzio, mas sim com a carta de Lippi: “quanto ao assunto, deixo-o em suas mãos […] lembrado que os pintores realizam suas próprias ideias e seus próprios projetos com maior amor e dedicação que os projetos dos outros.” (GREFFE, 2013, p. 43). Podemos ver que os artistas tornam-se sujeitos de seu destino – tal como Penélope – isso também pode ser expresso pelo fato de Michelangelo (1475-1564) se negar a pintar a Capela Sistina com tinta óleo e escolher o afresco. Ou seja, os artistas poderiam escolher os seus materiais, diferentes dos artistas de guildas, e interpretar os assuntos. No entanto, as coisas não foram tão fáceis ou tão simples. Sabemos que Daniel de Volterra (1509-1566), discípulo de Michelangelo, modificou os afrescos da Sistina. Cita-se ainda que a autonomia dos artistas será freada pelo concílio de Trento (1545-64) a editar normas muito estritas para a matéria. Parece também que cada avanço traz em si o retrocesso. Dessa forma, podemos afirmar que há muito passado no futuro.
Assim sendo, tradição e autoridade são as palavras-chave para pensarmos o academicismo que se inicia no século XVI, e encontra seu ápice no século XVIII. Todo artista que pretendesse adquirir importância deveria aprender as artes liberais por meios intelectuais, e não somente por meio da prática direta, que passava a dar apenas a forma técnica. O artista deveria receber treinamento intelectual, passando a aprender também geometria, perspectiva, anatomia, matemática e história. A frase de Leonardo da Vinci consolida-se, “toda prática deve ser fundamentada em uma teoria sólida”.
Constituía no intento em imitar a ideia ou ideal da natureza, e não apenas copiar. Pois, por meio da pintura, os academicistas aperfeiçoavam a natureza pela mente, buscando formas ideais.
Dessa forma, o artista passava a ser um co-criador da natureza por meio da arte, ultrapassando a obra da natureza por mostrar o que ela pretendia mas não era capaz de realizar. Representavam apenas, incluindo o ser humano, o que tinha de melhor e mais digno da natureza. Tal que a arte desta época pode ser percebida como a encarnação dos princípios da beleza, da verdade e do bem. Os exemplos de excelência da antiguidade deveriam ser tomados como regras.
A academia, de alguma forma, reconhece o direito a se estabelecer, como seu lema comprova: Libertas artibus retitutat (liberdade restituída às artes). Além disso, a academia surge como uma associação profissional de artistas que reúne indivíduos que praticam uma mesma profissão. O recrutamento é feito entre candidatos e forma-se uma elite de trabalhadores. O sistema de academia tem uma outra reação imediata, põe fim ao sistema tradicional de formação dos artistas. Por fim, para que as belas-artes se impusesse, era preciso manter uma diferença entre o gosto. Surge um gosto refinado que foge de todo conteúdo genérico, gosto além do simples prazer de gostar. Desta forma, o gosto superior cede espaço para a contemplação.
O Academicismo também produziu o engessamento e influenciou o gosto do público. Facilitada a venda, pois tinha contato com os empregadores e com os compradores, as academias, a partir do século XVI e XVII, acolheram os artistas e expunham as suas obras em salões. E nessa época a liberdade está em trabalhar com o mesmo tema de maneira nova. Contudo, em épocas de grandes navegações, o público também tornou-se diferente, e a originalidade, como um tesouro encontrado em uma praia, passa a se amarrar à ideia de raridade e unidade. Quando os clientes passam a ser o público em geral, surge o que podemos chamar, grosso modo, de mercado. Neste caso, os artistas também estão à venda.
Se a modernidade operou uma ruptura entre o artesanato e a arte, e a luta dos artistas constitui uma tradicional forma de resistência frente a elementos que podam a liberdade e a autonomia, e se a arte está submissa à vontade de clientes, acabando sempre em encurralar-se, a modernidade pode ser concebida como uma noção hegemônica da arte. Portanto, com novas amarras. Quando a tradição se instaura, seja por meio das guildas e das corporações de ofícios, ou por meio da academia, dos atelier particulares, dentre outros espaços, surge a necessidade, amiúde, de trair as regras. Não apenas para que o novo tenha oportunidade de instaurar-se, mas porque a arte é filha da insatisfação, e pai da ousadia, da mesma forma que qualquer sujeito que ouse cometer uma traição. O ideal talvez fosse o de que os vínculos permanentes entre tradição e obediência fossem diluídos, o que pode ter acontecido, também, por um período com os artistas modernistas, pois mesmo eles, avant-garde, estruturaram um novo “academicismo”, mas isso é uma outra história para um outro momento.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
¹ – O título foi inspirado em um comentário feito por Fernando peixoto, em 1980, sobre a peça teatral, Calabar: o elogio da traição, musicada e escrita por Chico Buarque e Ruy Guerra, em 1973.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Referências
GREFFE, Xavier. Arte e Mercado. 1ª Ed. (organização Teixeira Coelho), Tradução de Ana Goldberger. São Paulo: Iluminuras, 2013.
GOMBRICH, Enerst Hans. Symbolic Imagens: Studies in the Art of the Renaissance. New York. Phaidon Press Ltd; y First printing edition. 1972.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]