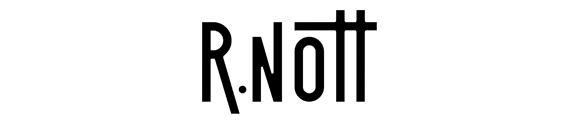capa: Lucian Freud – Interior with Hand Mirror (Self-Portrait) (1967)
Preâmbulo
Debuto novamente aqui, já muito diferente do outro que era quando aqui debutei pela primeira vez. A literatura, porém, ainda é parte da minha vida. Na verdade, é ainda mais parte dela, porque com ela me começo conheço. É um prazer.
e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso
e aqui me meço quando se vive sob a espécie da viagem o que importa
não é a viagem mas o começo da por isso meço por isso começo escrever
mil páginas escrever milumapáginas para acabar com a escritura para
começar com a escritura para acabarcomeçar com a escritura por isso
recomeço por isso arremeço por isso teço escrever sobre escrever é
o futuro do escrever sobrescrevo sobrescravo em milumanoites miluma-
páginas ou uma página em uma noite que é o mesmo noites e páginas
mesmam ensimesmam onde o fim é o comêço onde escrever sobre o escrever
é não escrever sobre não escrever e por isso começo descomeço pelo
descomêço desconheço e me teço um livro onde tudo seja fortuito e
forçoso um livro onde tudo seja não esteja um umbigodomundolivro
um umbigodolivromundo um livro de viagem onde a viagem seja o livro
o ser do livro é a viagem por isso começo pois a viagem é o comêço
e volto e revolto pois na volta recomeço reconheço remeço um livro
O que, de agora em diante, for lido sob o título Cassandra é algo que surgiu como uma carta. De carta, passou a pretensioso processo analítico. A resposta, se houver, só dirá respeito a Cassandra.
Devo escusar-me por haver induzido meu paciente a escrever sua autobiografia; os estudiosos de psicanálise torcerão o nariz a tamanha novidade. Mas ele era velho, e eu supunha que com tal evocação o seu passado reflorisse e que a autobiografia se mostrasse um bom prelúdio ao tratamento. Até hoje a idéia me parece boa, pois forneceu-me resultados inesperados, os quais teriam sido ainda melhores se o paciente, no momento crítico, não se tivesse subtraído à cura, furtando-me assim os frutos da longa e paciente análise destas memórias.
Publico-as por vingança e espero que o autor se aborreça.
Várias obras serão citadas como forma real (por fora) pela qual deveria ter sido expressado o que aqui se constrói (por dentro) ― há intenções e há algos sendo ditos aqui. A principal delas, o conto O espelho, de Guimarães Rosa, que já disse tudo o que aqui se vai tentar dizer. Pierre Menard? Sou prepotente e pedante o suficiente para me candidatar ao posto.
Ceci n’est pas un diário autobiográfico.
Dia 1 ― Um mau perdedor
Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à-parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha idéia do que seja na verdade — um espelho? Demais, decerto, das noções de física, com que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.
No final da história de Cupido e Psiquê contada pelo narrador de Metamorfoses — ou O asno de ouro —, de Lúcio Apuleio, Zeus dá a Psiquê o alimento divino que a transformará em imortal. Ao dizer-lhe da ambrosia, porém, alerta a princesa: “Bebe,” diz, “Psiquê, e torna-te imortal; Cupido nunca partirá de teu enlace, mas estas núpcias te serão perpétuas.” Com a bênção do deus dos deuses, Psiquê pode tornar-se imortal e ter a seu lado seu amado, Cupido, para sempre: serás imortal, mas estas núpcias te serão perpétuas. Ao lado da benesse, ao lado do presente, do dom divinamente atribuído, o risco (sed, “mas”, “contudo”) de algo que durará para sempre. Como fosse o preço a se pagar pela eternidade, uma forma de neutralizar o desequilíbrio que um tal dom provoca no universo: um castigo. A eternidade de Psiquê é doncastigo divino.
Mas isso é mitologia, e eu não creio em donscastigos divinos. Não se pode deixar de atribuir alguns sentidos à vida, porém. Somos viciados nisso, e eu não escapo. Sendo necessária uma mitologia, então, na que agora escolho, digo que fui caprichosamente dotado de uma espécie de força cujo controle e manifestação me escapam e que, ao sentir-se livre, pode-se revelar opressiva. Intensidade. Amar intenso, sofrer intenso, alegrar-se intenso e desesperar-se intenso; rir intenso, chorar intenso, apegar-se intenso. E tudo bem.
Mas há certa manifestação dessa intensidade — de que natureza? — que afeta os outros: às vezes, sinto como se fosse um espelho que reflete (reflete? refrata?), por causa de sua forma de virtualização da realidade, algo que restava quieto, escondido, muito bem guardado, e que agora se projeta potencializado, gritando-lhes aos ouvidos. Algo que às vezes faz bem, mas que, pela (indomada) intensidade com que insurge, também pode fazer mal. E, então, vem o afastamento causado pelo susto e pela descoberta, e não surpreende que a intensidade seja tamanha que o afastamento seja brusco e definitivo. É como se, assim, por uma simples condição de existência, fossem prontamente trazidas à luz essas coisas escondidas, obscurecidas, quase apagadas, tornando-se revelação que, invariavelmente, resulta em fuga — física, emocional e física e emocional. Ausência, distância, e o que antes era rotina agora é lembrança (Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói!). Como prêmio, então, resta a melancolia: a certeza da impossibilidade de (re)viver as possibilidades que existiam e poderiam vir a existir naquela convivência e que só são/seriam naquela convivência em específico.
Passados já mortos ou morrediços, porém, não serão ressuscitados ― até mesmo porque, na verdade, vivem como itabiranas lembranças (sempre Itabira!). Minha mitologia não admite práticas necromânticas. A velha roupa colorida de Belchior, o lenço de todas as cores que Miserinha deita ao rio-tempo de Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra para que as graças possam então fluir em nossa direção já ensinaram uma lição. Dói a impossibilidade daquelas vidas inteiras que poderiam ter sido e que não foram, mas elas já tiveram seu tempo de melancolia. Basta de luto.
Chega de ser mau perdedor.
Dia 2 ― Ainda não
Da última vez que conversamos sobre isso, estava tudo bem. Uma convivência antiga havia sido ressignificada, muito gostosa, pretensamente leve, tranquila, do melhor jeito que deveria ser. Um respeito aparentemente natural sobre quem éramos, sobre nossas histórias, traumas, anseios e ansiedades. Não demorou, porém, para que logo ela percebesse que, ao contrário do que achava, não conseguiria lidar com questões vindas de um relacionamento longo e traumático que teve no passado. Questões que insurgiram, e com muita intensidade, nessa convivência ressignificada. Questões que até então praticamente desconhecia e que se impuseram violentamente.
Não entenda aqui, contudo, que eu tenha sido acusado. Vamos pensar, ao contrário, em um quase agradecimento. Como se alguém percebesse, em nossas costas, um machucado que, de alguma forma, desconhecíamos e que, até então, não havia doído, ao menos não muito — uma pontada ou outra, talvez. Um machucado que, se não tratado, poderia infeccionar e que já nos deixava imperceptivelmente combalidos. E um machucado que só passou a doer porque revelado por outra pessoa, mesmo que veladamente — “Ei! Caramba! Você não está vendo, mas você está sangrando!” —, e é exatamente por isso que nós lhe agradecemos. Mas uma revelação feita por uma espécie de intermediário inconsciente de seu papel, que não revela nada voluntariamente, mas que catalisa uma descoberta que o outro faz por si próprio.
O problema é que tratamentos custam caro, nem sempre são efetivos, podem causar sequelas e, às vezes, estendem-se por longos períodos de tempo. That’s over, baby. Freud explica? E tudo de novo, outra vez. I’m getting tired of starting again / Somewhere new / Were you born to resist or be abused?
Mas isso era sobre o efeito que eu causo nos outros, não sobre o que eu causo em mim.
Ainda não.
Dia 3 ― O espelho
Fixemo-nos no concreto. O espelho, são muitos, captando-lhe as feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se com o aspecto próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas — que espelho? Há-os “bons” e “maus”, os que favorecem e os que detraem; e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos, no visível? O senhor dirá: as fotografias o comprovam. Respondo: que, além de prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados apoiam antes que desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato um após outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou nisso, é porque vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes. E as máscaras, moldadas nos rostos? Valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando.
Olhar-me no espelho costumava ser difícil: ver aquele corpo ali na frente, aquele rosto me encarando de volta, meu aspecto próprio, praticamente imudado, que eu então via como fosse um terceiro ― minha imagem fiel? E era difícil porque ele, aquele através do qual eu me via, sabia o que estava dentro de mim, e eu sabia que não havia segredos entre nós: a pura honestidade, aquele ponto em que algo simplesmente se mostra. O eu-do-espelho me olhava de volta, mas enxergava por dentro e de dentro. Como eu sou, no visível (?)(.)
Uma vez, a partir de uma foto minha ― e ela nem mesmo me conhecia para além da foto ―, uma pessoa me disse que viu profundidade e intensidade. Pode ser que tenha falado a verdade, mas, no fim das contas, ela era muito mais intensa do que eu. Viu-se em mim, então, potencializada ― e, claro, assustou-se e afastou-se.
São os índices do misterioso que se superpõem aos dados iconográficos.
Eu-espelho.
Dia 4 ― Refração
Resta-lhe argumento: qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de outra e sua reflexão no espelho. Sem sofisma, refuto-o. O experimento, por sinal ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico, em vista das irredutíveis deformações, de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo, e terá notáveis surpresas. Além de que a simultaneidade torna-se impossível, no fluir de valores instantâneos. Ah, o tempo é o mágico de todas as traições… E os próprios olhos, de cada um de nós, padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram, mais e mais. Por começo, a criancinha vê os objetos invertidos, daí seu desajeitado tactear; só a pouco e pouco é que consegue retificar, sobre a postura dos volumes externos, uma precária visão. Subsistem, porém, outras pechas, e mais graves. Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente… E então?
Pois bem. O que esse Eu-espelho reflete dos outros? Ou antes: como é que ele reflete, já que saber aquilo que reflete dependeria justamente de quem é o outro refletido? É um espelho bom, um espelho mau, um que favorece, um que detrai… Intenso. Pensando bem, talvez seja mais um espelho desmedido, que confunde estupidez com honestidade, mas que, com alguns sorrisos e despretensiosidades, camufla essa violência de inesperadamente jogar algo à cara de quem o/se vê. Eu-espelho é o eu que te devolve algo que você não quer ver, não poderia ver, era incapaz de ver; um problema ― sempre um problema? ― que ele próprio é incapaz de ajudar a resolver, e nem poderia. Eu-espelho então diz: “Vê, é isso que te devolvo, do fundo dos olhos desse que te é devotado: um enigma.” Eu-espelho é Eu-Esfinge, que não só faz a charada, mas joga de volta sobre o refletido a crua imagem refletida, sem disfarces, sem máscaras, explosiva expressão pura, assofismática, sutilmente despida, mas tão sutilmente que descobrir a peça que falta torna-se o verdadeiro enigma, esse sim o monstro que te devora(rá) enquanto Eu-espelho sorrio fingindo para mim próprio que está tudo bem. A Esfinge é derrotada no final.
Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; duvide deles, dos seus, não de mim.
Refração.
Dia 5 ― Cassandra surge
Vejo que começa a descontar um pouco de sua inicial desconfiança, quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra-a-terra. Rimo-nos, nas barracas de diversões, daqueles caricatos espelhos, que nos reduzem a mostrengos, esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos — e nas curvas de um bule tem-se sofrível espelho convexo, e numa colher brunida um concavo razoável — deve-se a que primeiro a humanidade mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. Tirésias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse… Sim, são para se ter medo, os espelhos.
Temi-os, desde menino, por instintiva suspeita. Também os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis excepções. Sou do interior, o senhor também; na nossa terra, diz-se que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noite, estando-se sozinho. Porque, neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. Sou, porém, positivo, um racional, piso o chão a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas não-explicações? — jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem o Monstro?
Também me vejo, de uma forma bastante específica, em alguns outros-espelho ― por certo, somos todos espelhos; mas há espelhos e espelhos, estamos vendo: os da física e os transcendentes. E eu gosto muito do Eu que enxergo refletido por quem gosto. É o Eu de que eu mais gosto, por sinal; é o Eu que eu quero ser, o único que, até hoje, conseguiu dar conta de todos os outros Eus, impor-se a eles e, mais do que comandá-los, subjugá-los. Um monstro? Talvez eu dependa demais dos outros para ser quem eu mais gosto ― não o único eu de que gosto, mas aquele que eu mais gosto de ser. É impossível ser feliz sozinho? Não é bem isso, mas também não deixa de sê-lo. Veremos. Fala-se muito que devemos ser autossuficientes, que não devemos depender de nada nem de ninguém, além de nós mesmos, para sermos felizes, para conquistarmos o que queremos. Não creio muito nisso, ao menos não como dogma. Encontrar a felicidade em si próprio é primordial, só que “depender” escapa a essas categorias de julgamento ético. Dependeo, em latim: “depender de”; ou melhor, “derivar de” ― como o broto da planta, pendendo de um galho, esperando sua vez de brotar, mesmo que, para isso, tenha que cair no chão. Antes de se soltar, ou de ser solto, dependeu dela. E isso não é bom, nem é mau: apenas tem que ser.
A gente não se vê diante daquele espelho da física; nosso olhar é viciado. É na relação com o(s) outro(s) que a gente tem a chance de se ver, de transcender o nosso e vê-lo manifesto no e pelo outro. Reflexo. Refração. Reflexão. O meu eu-do-espelho olha para mim e se vê no Eu-espelho, que devolve a imagem, de dentro. As ânsias. O que está preso. Oculto. Escondido. There’s a bluebird in my heart that / wants to get out.
É como se, de dentro de mim, gritasse a louca Cassandra ― mas ainda sou muito troiano, aquele que a ouve.
Dia 6 ― Cassandra
Responderei sem me esquivar ao que me indagas,
dos cimos do princípio. Caso me delongue,
queiras me desculpar, pois não tranquila a moça
franqueou a boca variegada dos oráculos
como antes, mas, ecoando um grito indiscernível,
apolizava da laurívora garganta,
reproduzindo a voz da Esfinge enegrecida.
O que minha memória e coração retêm,
poderias ouvi-lo, rei, e repisando
na mente aguda, segue as vias indizíveis
desenrolando enigmas, onde a trilha lúcida
por senda reta nos conduz em meio ao breu.
Eu rompo a corda no seu ponto extremo e adentro
o curso de sua fala oblíqua, como atleta
alado que abalroasse o marco da partida.
Cassandra é filha de Príamo e Hécuba, uma princesa troiana, irmã de Páris e de Heitor. De acordo com uma das versões de seu mito, teria sido desejada por Apolo, que é principalmente o deus das predições. Para tê-la, Apolo lhe ofereceu esse dom, fazendo de Cassandra uma de suas profetas, mas Cassandra recusou-se a cumprir sua parte no acordo, e Apolo, para vingar-se, não retirou o dom que lhe havia dado, mas, cruel, tirou-lhe a capacidade de persuadir: Cassandra era capaz de saber o futuro, mas incapaz de convencer as pessoas sobre a veracidade de seus vaticínios. Doncastigo divino. Predisse a queda de Troia; predisse o cavalo amaldiçoado. Ninguém acreditou. Foi tida como louca, e suas previsões, como desvarios. Cassandra sabia o incógnito, o invariável, o inexprimível, o arcano dos Fados, o vir a ser que, se já pode ser dito, já é.
Há uma Cassandra dentro de mim, que me vê, me sabe e me prediz. Mas também há um Príamo, uma Hécuba e os troianos todos que não acreditam na filha do rei. Há, então, uma Cassandra por completo aqui, pois estão em mim aquela que diz e aqueles que a refutam, tornando-a por isso quem ela é (Cassandra só é Cassandra na relação com os outros ― que, no seu caso, negam seu ser). No Eu-espelho, começa a ser vistouvida Cassandra, ainda alucinada, e ela grita (não o invariável, que não existe em minha mitologia, mas o vir a ser) e se debate, febril a ponto de seus lábios se racharem.
Cassandra, louca sibila; Apolo, malfeitor, que induziu a mente humana a descrer da verdade, a não ouvir nem mesmo o que grita o nome daquela que amou: kασσάνδρα ― talvez “ascender”; ou “aumentar”; ou “brilhar”; ou “superar”; ou “exceler”… mas kassándra insurge; e brilha; e supera. E ascende. Não um ou outro, mas um e outro.
O vício do verouvir que desacredita Cassandra deve morrer. E ela (in)surgirá, autossuficiente sibila que clama pra si e se crê. Laurígera garganta reproduzindo a voz da Esfinge enegrecida.
Dia 7 ― O perigo
Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas? O espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a idéia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-o o senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do espelho — anote-a — esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo; e não lhe terá escapado a polarização: luz-treva. Não se costumava tapar os espelhos, ou voltá-los contra a parede, quando morria alguém da casa? Se, além de os utilizarem nos manejos da magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque, através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade? Alongo-me, porém. Contava-lhe…
Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei… Explico-lhe: dois espelhos — um de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício — faziam jogo. E o que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea, aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor. E era — logo descobri… era eu, mesmo! O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação?
Então, se Cassandra livrar-se da maldição da impossibilidade de persuasão ― e a predição não deixa de ser uma espécie de maldição também (pensemos pela lógica do e, não do ou) ―, vociferará livre de julgamento: suas palavras serão verdades certas, o real. E o real pode ser bom, mas também pode ser ruim; melhor: o real simplesmente é, e nós o predicamos bom e ruim. A Cassandra que, desde o eu-do-espelho, ecoa de dentro de mim diz-me o inexprimível e, talvez por isso, seja tratada como louca. É que a verdade dá medo. E nós somos covardes ― eu principalmente, que evitei usar “eu” e disse “nós somos covardes”. Tirésias, contudo, já havia predito ao belo Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse… Tendo-se visto, talvez não tenha de fato morrido: apenas passou a viver outra existência, em águas profundas. Sim, são para se ter medo, os espelhos.
E Édipo? O que causou sua ruína, senão a incontrolável vontade de querer saber quem realmente era, seguindo apenas a si próprio? O ímpeto pela busca foi tamanho que ele não apenas retornou para a casa paterna, mesmo sem sabê-lo, após matar o próprio pai ― como etapa necessária para a descoberta de si ―, mas também para o ventre materno. E qual o prêmio? Saber-se o assassino do pai, o esposo da mãe, o pai de seus irmãos. Esse e apenas esse o prêmio, essa e apenas essa a consciência, já que o motor divino é sempre incompreensível aos homens ― e de que serve aquilo que não se pode compreender? Não perguntes ― saber é nefasto ― qual fim nos foi dado / pelos deuses, Leuconoe, nem jogues c’os números / babilônicos. Como é melhor que se sofra o que for! Tendo descoberto quem era, não podia mais se dar ao luxo da luz, ao luxo de se ver: arrancou os próprios olhos. Na mitologia, aqueles que veem o divino manifestar-se em sua forma pura são fulminados. Livrou-se Édipo do vício dos olhos, fulminando-se após tomar consciência do arcano divino que o embalava.
Em algumas situações, começamos a reparar em nossas imagens que os outros refletem; no vício do olhar, o que vemos, senão um monstro? Repulsivo senão hediondo perfil humano? O medo distorce ― a confiança também (e). Enquanto bebe, capturado pela imagem da forma observada, / ama uma esperança sem corpo, pensa ser corpo aquilo que é sombra. Não quero ser Édipo caído, que cegou a si próprio por não ter coragem de enfrentar a verdade descoberta, e também não tenho vocação para belo Narciso, que perdeu a vida como recompensa por sua coragem. Cassandra sabe.
Sim, são para se ter medo, os espelhos.
Dia 8 ― A solidão
… caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada; para não dizer o urgir científico. Levei meses.
Sim, instrutivos. Operava com toda a sorte de astúcias: o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa obliqüidade apurada, as contrasurpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de-repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência. Mirava-me, também, em marcados momentos — de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriram-se-me enigmas. Se, por exemplo, em estado de ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce, em tremendas multiplicações: e o senhor vê, então, que, de fato, só se odeia é a si mesmo. Olhos contra os olhos. Soube-o: os olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis, no centro do segredo. Se é que de mim não zombassem, para lá de uma máscara. Porque, o resto, o rosto, mudava permanentemente. O senhor, como os demais, não vê que seu rosto é apenas um movimento deceptivo, constante. Não vê, porque mal advertido, avezado; diria eu: ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções. Não vê, como também não se vêem, no comum, os movimentos translativo e rotatório deste planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe; mas o senhor me compreende.
Não à toa, Édipo, em uma das versões de seu mito, já se tendo cegado, retira-se para um canto obscuro de seu palácio, enquanto o resto de sua casa segue o mesmo caminho: a queda. Arrancando seus olhos, Édipo evita ver a si próprio; ao se isolar, evita ainda que os outros o vejam e, assim, principalmente que ele se veja nos outros: Cedido às trevas, no refúgio do imo cômodo / invisíveis ao céu e às réstias os penates / mantendo… Apenas ele próprio e suas Fúrias. Completamente sozinho.
Ímpios, com justa destra perscrutara os olhos
e imergira o maldito pejo em noite eterna
Édipo, sob extensa morte a alma arrastando.
Cedido às trevas, no refúgio do imo cômodo
invisíveis ao céu e às réstias os penates
mantendo, ainda o cerca com incessantes asas
seva luz da alma, e as Diras dos crimes no peito.
Nisso, as orbes vazias, pena horrenda e triste
de vida, ao céu ostenta e com cruentas mãos
esmurra a terra inane e roga em voz ferina…
E Édipo então, com animalesca voz, reza às divindades infernais para que se cumpra seu desejo ― vivia ainda em um mundo repleto do sobrenatural, joguete dos deuses, vítima de seu próprio destino, que era imutável por qualquer força e ininteligível pelo homem. O muitas vezes inaceitável contra o qual não se pode rebelar. Alongo-me, porém. Contava-lhe…
Dia 9 ― Sozinho
Sendo assim, necessitava eu de transverberar o embuço, a travisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa — a minha vera forma. Tinha de haver um jeito. Meditei-o. Assistiram-me seguras inspirações.
Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto externo diversas componentes, meu problema seria o de submetê-las a um bloqueio “visual” ou anulamento perceptivo, a suspensão de uma por uma, desde as mais rudimentares, grosseiras, ou de inferior significado.
Sozinho, então, não somente porque isolado, mas principalmente porque despido de tudo que não seria eu. Só eu, sem aquilo que se depositou sobre mim, sem as máscaras direta ou indiretamente colocadas sobre meu rosto; meus olhos sem lentes, olhando no profundo. O ver-se é esforço, demanda um trabalho: para se ver, é necessário aprender a deixar de ver e deixar de ser visto, conclui-se. “Transverberar-se”, deixar a luz atravessar um meio ― etimologicamente, do latim trans– e verbero: “fustigar de um lado a outro”; “maltratar”. O ato de ver o real de si é violento, além de exigir um despimento: pôr-se a nu à força, contra si próprio, devassar o núcleo da nebulosa. Coragem. Afinal de contas, é isso que a vida quer da gente.
Há uns dias, li algo sobre a palavra “indivíduo”, algo que pregava o individualismo como meta, uma confusão conceitual etimológica vinculando uma exigência de completo desprendimento do outro a uma forma absoluta de conhecer-se, de saber-se; uma imposição triste, no fim das contas. Uma defesa de reclusão edipiana, de reflexão narcísica. Individuus, o indivisível, o que não se separa: “inseparável”; individuitas: “indivisibilidade”, “indissolubilidade”. Por hora, apenas guardemos essa etimologia.
Sendo então possível chegar à minha vera forma, eu teria acesso à natureza dessa intensidade, algo que parece tão meu e tão eu a ponto de já me ter definido mais de uma vez, pelos outros e por mim mesmo, para o bem e para o mal. Édipo e Narciso aproximam-se de si próprios. Sem mãe, sem companheira e sem pai, desiludido das escolhas feitas, estive sozinho, aproximei-me de mim mesmo, só por mim, ainda que com intervalos de grande e intensa convivência com outros. Os laços que me prendiam a uma imagem minha nos últimos muitos anos, os anseios com que eu projetava uma imagem futura ainda que baça, todos eles mais do que desfeitos, mais do que afrouxados, mais do que cortados: mortos; acabados; inexistentes. Arrancados. Primeiro melancolia, depois luto.
Édipo diante da Esfinge; Narciso diante da água; Cassandra diante do espelho: vai acreditar em si, vai ouvir-se?
Dia 10 ― Não existir
Um dia… Desculpe-me, não viso a efeitos de ficcionista, inflectindo de propósito, em agudo, as situações. Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo, liso, às vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, à dispersão da luz, tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto? Apalpei-me, em muito. Mas, o invisto. O ficto. O sem evidência física. Eu era — o transparente contemplador?… […]
Com que, então, durante aqueles meses de repouso, a faculdade, antes buscada, por si em mim se exercitara! Para sempre? Voltei a querer encarar-me. Nada. E, o que tomadamente me estarreceu: eu não via os meus olhos. No brilhante e polido nada, não se me espelhavam nem eles! Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me, ao termo, até à total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um… des-almado? Então, o que se me fingia de um suposto eu, não era mais que, sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências, e tudo o mais que na impermanência se indefine? Diziam-me isso os raios luminosos e a face vazia do espelho — com rigorosa infidelidade. E, seria assim, com todos?
Isolado, despido, só, pus-me diante do espelho em edipiana busca: quem sou eu? Mas não me vi. Onde estava minha carne, meu ser, uma vez que não me via na imagem refletida, que não me enxergava, não me divisava? Eu, que não me reconheci não porque outro, mas porque nada distingui, porque nada vi. Estive, à força, onde me diziam ser o melhor lugar para me encontrar, e lá não encontrei ninguém, nem nada, e nem resposta houve, só mais dúvidas. Impermanecendo, indefini-me. Nem mesmo a intensidade percebi, só um vazio, o maior de todos; mas um vazio intenso, dentro e de dentro. Sem marcas, sem disfarces, sem qualquer componente, não cheguei a mim, a uma natureza essencial do ser; sem ver-me nos outros, sem os outros ver em mim, não era mais possível ver-me. Porque não havia. E acaso há?
Mas, nesse então, houve um ponto de partida. Um zero. Uma possibilidade de construir. Não foi para me encontrar, mas para me esquecer, para me deixar. Não foi para me achar, mas para me perder que entrei, desavisado, mal instruído, nessa viagem. Um Édipo que poupa seus olhos e vê as consequências de seu ser, mesmo que nele não se reconheça; um Narciso que, no momento da queda, deixa de ver sua imagem refletida e se lança em direção a um profundo nada; uma Cassandra que, mais do que se ver e se ouvir, crê em si e se assusta.
Você jamais se encontrará ao se isolar, ao se despir, ao permanecer sozinho; diante de um espelho, um invisto, um ficto, você não pode saber quem é: só pode saber que não é. Nesse lugar, o não existir: Aqui não se tem convívio que instruir. Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso…
Dia 11 ― Ouça
Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei — não rosto a rosto. O espelho mostrou-me. Ouça. Por um certo tempo, nada enxerguei. Só então, só depois: o tênue começo de um quanto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentando-se em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria contido em minha emoção? Que luzinha, aquela, que de mim se emitia, para deter-se acolá, refletida, surpresa? Se quiser, infira o senhor mesmo.
São coisas que se não devem entrever; pelo menos, além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir, muito mais tarde — por último — num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava — já aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria. E… Sim, vi, a mim mesmo, de novo, meu rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. Mas o ainda-nem-rosto — quase delineado, apenas — mal emergindo, qual uma flor pelágica, de nascimento abissal… E era não mais que: rostinho de menino, de menos-que-menino, só. Só. Será que o senhor nunca compreenderá?
O que compõe o indivisível, o indiviso, o indivíduo? O que dele não se pode retirar, não se pode dividir. O individual só faz sentido em relação ao coletivo; só existe enquanto há coletivo. Por causa dele, então. É impossível ser sozinho. Isolar-se é desfazer-se, deixar de ser; para ser, deve-se voltar à condição de indivíduo, daquele que é uma unidade em relação à coletividade. Édipo deve novamente ser visto pelos outros e deve novamente enxergar, o que só conseguirá pelos outros; Narciso precisa entrar em contato consigo como outro, atravessar sua própria imagem em direção a outra existência.
Repita-se, pois são coisas que se não devem entrever: Édipo é aquele que tomou consciência de si próprio através de suas relações com os outros: com seu pai adotivo, com seu pai, com a Esfinge, com os cidadãos de sua cidade, com sua mãe, com seus filhirmãos. Narciso existiu de outra forma depois de ver-se, de atravessar-se, de estabelecer uma relação até então desconhecida com a imagem desconhecida de si próprio, de sua própria beleza, daquilo que o tornava Narciso.
Devia ou não devia contar-lhe, por motivos de talvez. Do que digo, descubro, deduzo. Será, se? Apalpo o evidente? Tresbusco. Será este nosso desengonço e mundo o plano — intersecção de planos — onde se completam de fazer as almas?
Se sim, a “vida” consiste em experiência extrema e séria; sua técnica — ou pelo menos parte — exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra? Depois, o “salto mortale”… — digo-o, do jeito, não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos as comuns expressões, amortecidas… E o julgamento-problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: — “Você chegou a existir?”
E Cassandra? Em mitologias outras, é despojo de guerra que resta ao vencedor. Na minha, Cassandra é a minha própria voz que ouço, é a perspectiva pela qual me vejo, é a laurívora garganta que me apoliza. Cassandra é o Eu-espelho, dotada de seu doncastigo divino: despojada, expatriada, tornada órfã e dada ao mundo, ela expõe sem se importar se nela creem ou não ― como sempre, mas agora vista, e não mais trancada em um recanto inacessível: seu próprio ser.
Cassandra c’est moi.
Ouça.