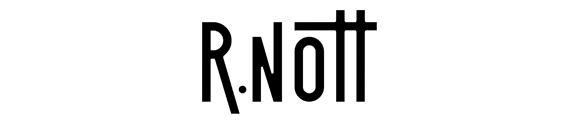Imagem: Francis Bacon’s studio
Na coluna Visuais desse mês propõe-se uma discussão a respeito da ‘grande escola’, da homogeneidade fragmentada que produz a nossa arte de hoje, onde há, e haverá cada vez mais, originalidade e individualismo.
“Pensando por esse lado, é significativo observar que, tendo à mão e ao clique a arte do mundo, um artista deve fazer escolhas muito sérias a respeito de para onde levar o seu trabalho.”
Lembro-me, nas primeiras épocas de estudo da História da Arte (assim, com essas letras maiúsculas, quase assustadoras), que achava que o século XX era difícil de compreender. Passadas as vanguardas de início de século, os readymades, as intervenções e instalações, ficava difícil definir o que estamos fazendo, que caminho trilhamos e para onde apontamos.
Conquistas como as da anatomia e da perspectiva já foram digeridas. Outras conquistas, como das gerações pós-Renascimento, de Maneiristas e de gente como El Greco e Tintoretto, já foram digeridas. Talvez tenham sido ainda mais importantes, mostrando que poderia haver vida e arte depois de um apogeu de virtuosismo e técnica. Artistas como estes demonstraram que pode-se achar um caminho de muito significado mesmo vivendo após uma das maiores gerações (talvez a maior) da história da humanidade.
E assim foi se construindo essa tortuosa história da arte, feita de gente que inventa para contradizer quem inventou antes; feita de sucessivas vanguardas, mesmo sem se definirem como vanguardas. Negação do passado e um caminho cada vez mais interno, subjetivo, pessoal. Desde os Impressionistas não há mais um jeito certo de fazer as coisas, nem uma crítica que seja capaz de restringir a Ideia.
Todo o século XX culminou no que somos hoje, sem uma teoria única, sem uma escola e, ao que tudo indica, sem um horizonte comum para onde apontamos – se ele existir, só os do futuro o saberão. Quando somos educados em arte, juntamos num grande pacote tudo o que o passado levou séculos para descobrir; e o engolimos. São séculos de conhecimento disponíveis ao alcance das mãos. Melhor ainda, são conhecimentos que já temos internalizados em nossas mentes. Usamo-los sem dar-nos conta.
A sua arte, a sua arte pessoal, a que você escolhe fazer, pode se utilizar de qualquer referência da história.
Vivemos em uma época de referências, de juntar elementos. O que você produz pode ser composto por elementos folclóricos, renascentistas, greco-romanos, digitais, dadaístas, etc., etc., etc. Ou então nada disso. Vivemos numa época de Google: nosso individualismo é rico. Você, querendo ou não, pode lançar mão da alquimia hermética sem saber muito sobre isso, e talvez não importe tanto. Quem acha o sentido, no final das contas, é o expectador.
E que época engraçada a que vivemos em meio às artes onde nada parece com nada, e tudo é tão, tão pessoal.
Pensando por esse lado, é significativo observar que, tendo à mão e ao clique a arte do mundo, um artista deve fazer escolhas muito sérias a respeito de para onde levar o seu trabalho. Quão difícil tornaria achar uma identidade em meio ao caos de informações. E, no entanto, acha-se, pois tudo reside na identidade, nessa compulsão e nessa necessidade das nossas gerações de distinguirem-se frente às multidões. Pois, como um exemplo, quantos artistas passaram por esta revista em pouco mais de um ano de existência… Quantos entre eles apresentam estilos que se aproximam um pouco entre si, e, ainda assim, quão diferentes são!
Nesses tempos em que nomes famosíssimos da arte parecem não existir com a mesma intensidade – o século de Dalí, Picasso e Duchamp já acabou – a produção artística parece voltar-se um pouco mais para dentro, para o seu ponto de origem, na ferramenta que estiver à mão, desde a tinta a óleo até o charging ultra high speed Adobe Illustrator. Tudo numa tentativa íntima de expressão, que pode deslanchar numa carreira ou ficar num canto da gaveta, num desabafo. Os grandes cenários decompõem-se em guetos, em burgos; são produzidas coisas por aqui, na Europa, no Japão e nos States, e nada mais é centro de nada.
Nenhum artista mais é centro de nada.
E, afinal, apenas agora me dou conta de como admiro e adoro cada artista que entrevistei, porque os conheço, porque perguntei sobre suas artes e eles me disseram, e tudo isso está ali visível no que produziram, de modo que os vemos por dentro, em tamanha riqueza.
Isso tudo transforma a produção artística num impressionante infinito de microcosmos espalhados ao redor do mundo.
Duchamp dizia que o indivíduo, quem ele é, o seu cérebro, interessava-o mais do que o que ele faz, porque a maioria dos artistas apenas se repete. Eu penso, em toda a minha pequenez frente a Duchamp, que talvez quem o artista seja e o que ele faz sejam a mesma coisa.
Não se repete, portanto. Apenas se é.
Nesse mundo de arte extremamente globalizada e heterogênea, em que as escolas estéticas somem para darem lugar a produções muito subjetivas, as vanguardas deixam de existir, e a necessidade delas também. Tenho a impressão de que conhecer o trabalho de um artista sério, hoje, significa conhecê-lo quase intimamente, adentrando seus significados. É uma disposição em publicar uma arte original, tão individual como seu próprio dna. A obrigação em ser original é ao mesmo tempo a luta por encontrar-se.
Pois as artes de nossa época são únicas. Essa deve ser a grande escola, de milhões de indivíduos e suas artes.