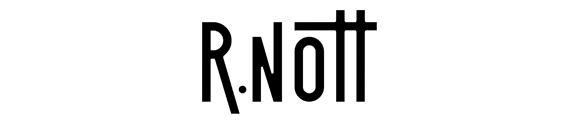imagem de capa de autoria de Angeli.
Nossa contemporaneidade insiste compulsivamente em preencher o branco e os espaços vazios. Ouço alguém na televisão dizer que não se lê atentamente porque não se consegue mais ouvir.
“Quando pensamos no cotidiano do espaço urbano, é inevitável não evocarmos imagens de ruído, movimento e poluição visual. No meio disso tudo podemos ser atingidos também por arte. Mas que arte é essa que não suporta ver paredes em branco?”
Recentemente, no Interrogatório da Issue #09 da nossa revista, entrevistamos o muralista e grafiteiro argentino Lean Frizzera, que trabalha com pinturas em grandes formatos[1]. Foi mencionada, em um momento ou outro da conversa, a importância do espaço da rua como um espaço de exposições artísticas, que pode atingir a qualquer um, indiscriminadamente. A questão principal do assunto: o acesso. Eu gostaria de voltar a esse tema.
Observo, antes de começar, que não trato aqui da questão ‘acessibilidade’ (que levaria em conta questões sociais – o acesso concedido a diferentes camadas do estrato social – e também especiais – a facilitação do acesso a pessoas com algum tipo de deficiência física), e sim do acesso como presença: a obra que visita ao invés de ser visitada, amplamente visível em um cenário urbano, fazendo parte de um conglomerado de edifícios, telhados e paredes – as telas dos ‘intervencionistas’, esses pintores-invasores. Ambas as questões sociais e especiais, portanto, são vencidas quando tratamos de construções que estão postas aos olhos de vias públicas, de transeuntes, de toda uma cidade.
Devemos aceitar o fato de que, independentemente do valor artístico do que se pinta (e borda) em uma parede de qualquer cidade do mundo, não só se altera o valor intrínseco dessa parede como se altera seu valor frente a uma comunidade – em geral a comunidade que ‘possui’ essa parede[2]. Pensemos, pois, numa parede das mais comuns, um muro mal cuidado de escola, sujo, com um tratamento dos mais vagabundos, e que um dia é coberto pelo trabalho de um ‘invasor’, um grafiteiro que pode ser talentoso ou não – mas, pelo bem do argumento, imaginemos que seja. Seu valor comunitário é imediatamente alterado. A visão da comunidade local se transformou. A parede tem o seu valor alçado de ‘parede da escola da região’ para ‘parede da escola com arte’. Essa parede pode ser depois mantida, refeita, derrubada ou pintada por um outro muralista – correndo o risco de ofender os próprios membros dessa comunidade, os guardiões dessa obra exposta. Não se pede permissão: essa é a premissa da Arte de Rua. Ela não é de ninguém, e, de um modo um tanto paradoxal, é de todo mundo.
O modo como esse tipo de obra surge e some dentro de uma cidade é de difícil caracterização, e ocorre diariamente ao redor do mundo. Enquanto a arte de rua carrega em si significados ligados ao reconhecimento social, à intervenção, à quebra de expectativa, ao protesto e ao kitsch, move-se, como que debaixo de todos esses sentimentos e intenções, um fenômeno mais sensível, mais difícil ainda de nomear quando se pensa pelo lado de quem, inesperadamente, vê. Ele é o fenômeno de uma estética inesperada, da obra que surge e visita. A cidade, no sentido da estética urbana, também é cada vez mais um organismo vivo, que absorve e expele conteúdos e mutações.
Voltando à entrevista com Lean Frizzera, ele mencionou o encantamento com a possibilidade de se poder comover a um transeunte com um mural exposto na rua. A pessoa, absorvida em seu cotidiano, poderia abrir a mente simplesmente por um resvalar de olhos num trabalho que o ‘invadiu’. A escolha deixa de ser daquele que escolhe em seu livre-arbítrio comparecer a um museu e dedicar horas exclusivamente à apreciação do que quer que seja. na rua, ‘o que quer que seja’ pode te encontrar e te causar impacto. E se não causar, tudo bem: é mais uma poluição visual, retomando o termo usado por Ralph Steadman[3] quando dizia que já havia produzido demais e se sentia um poluidor.
E que cidade é essa que nos invade? Qual é exatamente o sintoma da contemporaneidade (desse monstro disforme chamado pós-modernidade) que não se contenta com o branco, com o espaço vazio, com o muro e com a parede? Sabemos que a estética da arquitetura moderna se rebelou contra a falta de (bom?) gosto e o excesso de preciosismo da sua antecessora no séc. XIX. A pureza de formas, o volume e as poucas curvas e cores trouxeram uma sobriedade que não foi facilmente absorvida. E, no entanto, algo indica que nunca foi absorvida por completo. Nossa contemporaneidade insiste compulsivamente em preencher o branco e os espaços vazios. Ouço alguém na televisão dizer que não se lê atentamente porque não se consegue mais ouvir. Quem sabe isso não faça algum sentido ainda maior do que o que esperávamos, nós, com o acesso 24hs à informação, nós, o noticiário portátil em que nos transformamos?
Para que tenhamos música, diz-se que um dos elementos básicos do fenômeno deve ser obrigatoriamente a existência da pausa, do silêncio. É inevitável encaixarmos esse conceito em nosso convívio, na pausa própria da existência, concretizada no momento da contemplação. Enquanto uns tornam essa atividade uma atividade curricular – como com a yoga, essa contemplação programada na grade horária da sua semana – parece que se perdem as pausas na música diária de nossas vidas – para-se para contemplar às segundas, quartas e sextas, entre as 18h e as 19h30. Por eficiência e progresso deixamos de lado o primitivo, essa folha em branco que não suportamos contemplar e que nos provoca a ‘intervir’. Somos eficientes, e como somos! Sonia Marques, em artigo para a revista Será? no último mês de setembro, mencionou algo parecido:
“O que me faz pensar que alguns artistas contemporâneos e sobretudo muito dos que reivindicam fazer arte urbana sofrem de fobia do vazio. Mas é possível que uma nova onda surja de artistas querendo ouvir o silêncio e apreciando a delicadeza do vazio.”
Mas como vocês devem se lembrar, eu comecei este texto falando sobre a arte de rua que entra em nossas vidas sem pedir licença, sem que necessariamente tenhamos dado a permissão para tal. De fato, talvez uma obra não entre em nossas mentes sem uma mínima permissão inconsciente. Talvez ir ao museu não seja garantia de ser atingido por significados novos e misteriosos. Ademais, quantas não são as coisas que nos invadem dia após dia, nesse contexto de caos e barulho que é a nossa existência urbana? Por que, devemos pensar, a arte não seria diferente?
Mas quem sabe fosse o momento de pensar um pouco sobre esse vazio, essa pausa. Num mundo tão cheio de significados – me corrijo, num mundo com excesso de significados – parece tentador voltarmos a redescobrir o valor do vazio. Ao mesmo tempo em que respeitamos (e, desconfio, valorizamos cada vez mais) o trabalho de artistas que intervém no espaço urbano, mostrando aos nossos olhos nossas próprias imperfeições, comédias e tragédias, até que ponto não estaríamos nos tornando poluidores visuais, tal como Steadman? Nós, criados para rejeitar a poluição dos outdoors e da publicidade carniceira.
Retomando o princípio da distinção de Bourdieu evocado pela própria Sonia Marques, onde tudo está preenchido é o vazio que se destaca.
[1] Clique aqui para conferir a matéria.
[2] Fujo aqui das discussões de valores arquitetônicos frente a intervenções ou grafites, esse é um problema que rende um artigo por si só.
[3] Cartunista inglês nascido em 1936. Publicou seu trabalho em meios como The New York Times e Rolling Stone.