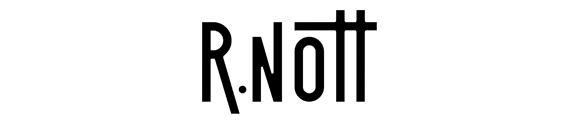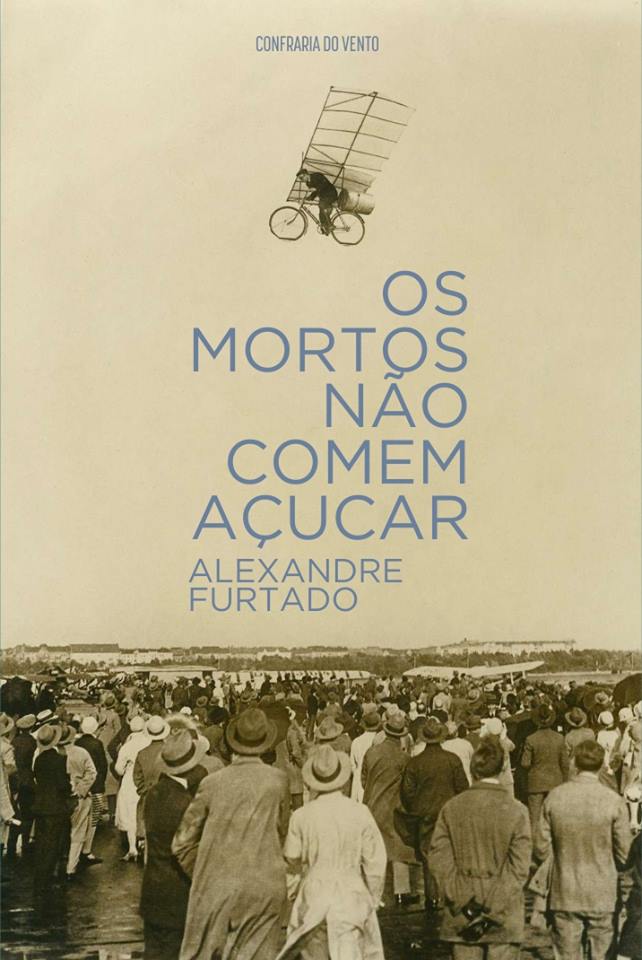“Assim como, para quem gosta e estuda música, os grandes do passado são incontornáveis, mesmo que não se goste deles, da mesma forma ninguém que tenha um mínimo de aspiração intelectual pode negligenciar Homero, Sófocles, Platão, Catulo, etc. Sei que estou dizendo um clichê, mas é a verdade, que posso fazer?”
Na ‘pulga atrás da orelha’ deste mês, que chamamos também de Interrogatório, continuamos perseguindo um tema caro dentro da R.Nott Magazine: o Clássico. Neste caso, a Antiguidade Clássica. Numa contemporaneidade que vê a Antiguidade Clássica greco-romana como um conjunto finito e divertido de mitos mais ou menos bem conhecidos – muitas vezes lembrados por suas roupagens hollywoodianas, dada a popularidade desses personagens – vemos que a leitura, de fato, de textos de períodos antigos está relegada a pequenos guetos, acadêmicos em sua maioria. Mas ao entrar de fato nesses textos, vemos que essa leitura não é apenas mais desafiadora do que imaginamos, mas também bastante proveitosa, pelo fato de descobrirmos incrivelmente que não há nada de novo sob o sol, e que os homens antigos podem oferecer diálogos enriquecedores dentro do nosso tempo. Pois bem, retomando a máxima de Calvino, “por que ler os Clássicos?”, para esse papo convidamos o professor José C. Baracat Jr.¹, pesquisador dos textos de Plotino e fã do Frank Zappa.
-
Caro Baracat, obrigado pela presença. Te juramos que o Interrogatório será gentil. Em primeiro lugar, por que ler os clássicos antigos?
Vinicius, sou eu quem agradece o convite! Fico sempre feliz por participar da R.Nott, revista de que gosto muito. A pergunta que você me faz já recebeu respostas de muita gente brilhante, por isso não tenho (nem poderia ter) a menor pretensão de dizer algo novo. Posso apenas expor minha experiência e confessar meus gostos. A resposta “clássica” à pergunta é que precisamos ler os clássicos para entender quem somos. Essa resposta é inteiramente verdadeira em alguns aspectos, mas sua veracidade, ou melhor, sua adequação, é parcial em certos contextos. Pense num país como a Itália, por exemplo: faz todo o sentido para os italianos lerem os clássicos com a intenção de entenderem quem são, pois eles são descendentes diretos da Antiguidade, que lhes é presente de modo claro. E isso se aplica, em maior ou menor grau, a outros povos europeus. Entretanto, e nós, brasileiros? Creio que aplicar uma resposta dessas a nós não faz tanto sentido por motivos óbvios: não somos descendentes diretos da Antiguidade Clássica, ou pelos menos não apenas dela, já que os indígenas e os africanos nos constituem de modo tão essencial quanto os europeus (isso para não mencionar os árabes, os japoneses e outros, cuja imigração é mais recente, mas que acrescentam elementos marcantes à nossa jovem e instável identidade). Por isso, no nosso caso, ler os clássicos também pode, sem dúvida, ser uma maneira de entendermos o que não somos. São as diferenças entre nós os clássicos – europeus, nunca é demais repetir – que mais me interessam, na medida em que clarificam o que em nós não é clássico.
Todavia, é manifesto e inegável que, apesar dessa complexidade que nós somos, grande parte de nossas questões são as questões dos clássicos europeus, porque essa tradição nos foi imposta desde nossos primórdios. Mais até do que o conteúdo das nossas questões, a forma como as tratamos, isto é, a linguagem com a qual fazemos arte, filosofia e ciência, é a dos clássicos. E aqui, sim, como você menciona, ler os clássicos gregos e latinos nos permite acessar obras que moldaram nossa expressão cultural – e que o fizeram de modo sublime! – e ter a sensação de que, em algumas áreas, há pouca novidade. Talvez em nenhuma outra área se sinta mais isso do que na literatura. Para usar uma imagem apropriada a estes tempos olímpicos, é a sensação de que eles inventaram o jogo e as suas regras básicas.
Há muito para falar sobre isso ainda, e eu receio que minha resposta fique longa demais. Mesmo assim, gostaria de desenvolver uma expressão da sua pergunta: “clássicos antigos”. Estamos falando dos antigos que são clássicos ou dos clássicos que são antigos? Pois, num sentido, ainda que inexato, chamamos “clássicos” a todos os gregos e romanos “antigos”; noutro sentido, caracterizamos como “clássicos” os autores ou as obras que figuram como pilares da posteridade. Normalmente juntamos as duas coisas e tomamos todos os antigos como “clássicos” nos dois sentidos. Mas todos os clássicos são clássicos? Certamente não. Se Homero, por exemplo, é o clássico dos clássicos (embora seja, historicamente, arcaico), citado, imitado, estudado, amado em todas as épocas, outros autores têm condições diferentes em diferentes épocas. Coordenei um grupo que acabou de traduzir os Fenômenos, de Arato, um poema didático do século terceiro a.C. Esse poema foi muito influente da Antiguidade até o Renascimento. Era um sucesso na antiga Roma (foi traduzido até por Cícero!). Mas, hoje, quem o conhece? Nem entre os classicistas ele é muito conhecido. Deixe-me dar mais um exemplo para ilustrar melhor o que quero dizer. Todas as tragédias gregas que chegaram a nós são atribuídas a Ésquilo (sete), Sófocles (sete) e Eurípides (dezoito tragédias mais um drama satírico), ainda que houvesse muitos outros tragediógrafos brilhantes e esses três autores tivessem escrito muitas peças além dessas. Mas por que só essas nos chegaram? Neste caso específico (outras obras e outros autores terão outras razões), nós percebemos que, até a metade do terceiro século a.C., os escritores antigos tinham acesso a um número maior obras desses tragediógrafos e, ainda, às obras de outros; entretanto, depois disso, as referências dos antigos passam a se limitar às sete obras de Ésquilo, às sete de Sófocles e a dez de Eurípides (as outras nove peças deste autor sobreviveram graças a uma edição em ordem alfabética, da qual restaram as obras com títulos iniciados com as letras épsilon, eta, iota e capa). A explicação provável é que algum gramático do século terceiro fez uma seleção das tragédias disponíveis para uso próprio – para fins pedagógicos, talvez, mas não se sabe. Mas não há nada que explique o motivo de serem essas obras e não outras. E foi essa seleção que sobreviveu.
Então, veja: tudo que temos da tragédia antiga foi determinado pela escolha pessoal de alguém em algum momento e por um golpe de sorte que nos legou as tragédias de Eurípides cujos títulos começam por certas letras e não por outras. Geralmente, temos uma ideia meio darwiniana dessa sobrevivência, e achamos que as obras que nos chegaram são as melhores, as mais famosas, as que venceram os concursos teatrais – e, portanto, os clássicos. Mas, como se vê no caso das tragédias, não é bem assim. Fica claro como o acaso tem um papel importante, para não dizer, decisivo, no que se torna clássico. E fica claro também, no caso do Arato, que mencionei um pouco antes, como cada época pode escolher seus clássicos. Enfim, tudo isso para dizer que, para mim, um motivo importante para ler os “clássicos” é que eles nos fazem tentar entender os mecanismos do sucesso e do fracasso, da formação e da determinação do gosto de cada época. O que o fato de Menandro ser mais popular do que Aristófanes em Roma nos diz sobre Roma? E que nos diz sobre nós mesmos o fato de considerarmos a tragédia grega uma forma de expressão artística superior à poesia de Arato, talvez até mais admirada do que a tragédia em Roma?
-
Você acha que vivemos numa cultura presentista? Como lidar, a partir dessa questão, com esses três fatores: a) a incessante renovação tecnológica, que nos aponta constantemente para um futuro que é encarado por uns como evolução e por outros como apocalipse; b) o lugar que a literatura antiga greco-romana ocupa dentro da sociedade contemporânea – possivelmente, creio eu, de um enorme fóssil inútil; c) a nostalgia, elemento central na produção de cultura pop atual, que cria um embate interessante entre avanço tecnológico e rememoração de uma ‘idade de ouro’ analógica.
Parece que você quebrou o juramento de que o Interrogatório seria gentil. Essas perguntas são difíceis demais para serem gentis. Mas vamos lá. Eu não acho que vivamos numa cultura “presentista”, se com isso entendemos uma cultura que considera o presente superior ao passado. Como você mesmo já aponta na parte c) da pergunta, a nostalgia parece ser um elemento central, não só da cultura pop atual, mas da cultura popular ou erudita de todos os povos em qualquer época, de Homero a nós. Parece que todos acreditamos que o passado foi melhor e que, apesar da evolução tecnológica e científica, há uma involução humana (lembra das eras descritas por Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias?). Mas acho que vivemos numa cultura “presentista” no sentido de ser “imediatista”, isto é, uma cultura que tem pouca paciência, muita pressa e um desejo de fruição fácil e rápida. Tendo em mente este sentido, eu penso – sobre a) – que a evolução tecnológica não sugere, de modo algum, um futuro apocalíptico para os estudos clássicos; pelo contrário: o acesso às obras e à instrução de modo geral tem se tornado cada vez mais fácil e rápido. Você nem precisa estar numa universidade para aprender grego e latim, se quiser. Quando ingressei no curso de filosofia da Unicamp, em 1993, eu nem sabia o que era filosofia; os dois únicos livros de filosofia aos quais eu tive acesso antes disso, durante meus anos escolares, foram a República de Platão e o Anticristo de Nietzsche (eu morava numa cidade muito pequena). Por outro lado, entretanto, o imediatismo pode afastar as pessoas dos clássicos, e da cultura de modo geral, pois lê-los requer tempo e esforço – ainda mais se quisermos lê-los no original. Não tenho medo da tecnologia, mas o imediatismo, sim, pode ser apocalíptico.
Voltando à parte c) da questão, creio que o encontro da expansão do acesso à cultura possibilitada pela tecnologia e da nostalgia intrínseca a todas as épocas é muito benéfico para a Antiguidade. É a fome com a vontade de comer, por assim dizer. Não vejo exatamente um “embate” entre avanço tecnológico e rememoração – o que, evidentemente, não exclui a existência de entusiastas de ambas as coisas. E às vezes o entusiasmo pelas duas coisas na mesma pessoa: eu, por exemplo, não gosto e não compro CDs; mas, sem as mídias digitais, eu não teria acesso a toda a música desejo ouvir, pois não poderia comprar e armazenar todos os discos que quero. Assim, ao mesmo tempo em que prefiro e compro o vinil, consumo avidamente música online e em arquivos digitais. Portanto, também nesse aspecto acho que a tecnologia auxilia a sobrevivência da Antiguidade na nossa cultura imediatista, e que a rememoração da idade de ouro é fortalecida pelo avanço tecnológico.
Quanto ao lugar da literatura greco-romana nos nossos dias, para continuar com a comparação musical, acho que é o de um fóssil como Bach, Miles Davis, Beatles ou Black Sabbath; ou seja, um fóssil bem vivo. Como disse na pergunta anterior, os gregos e os romanos criaram o jogo e suas as regras básicas, e estabeleceram alguns recordes. Assim como, para quem gosta e estuda música, os grandes do passado são incontornáveis, mesmo que não se goste deles, da mesma forma ninguém que tenha um mínimo de aspiração intelectual pode negligenciar Homero, Sófocles, Platão, Catulo etc. Sei que estou dizendo um clichê, mas é a verdade, que posso fazer?
-
Fale um pouco sobre Plotino e sobre a sua experiência, enquanto sujeito contemporâneo, como leitor do filósofo neoplatônico.
Muita gente chega a Plotino por conta das suas buscas espirituais e o vê como um maravilhoso exemplo da conciliação entre racionalismo rigoroso e intensa experiência espiritual (o que ele de fato é). Como não tenho buscas espirituais nem nada do tipo, o que mais me interessa em Plotino é seu diálogo com a tradição filosófica que vem antes dele, quais problemas antigos ele julga lhe dizerem respeito e quais julga alheios a si. Como contemporâneo, é fascinante notar que a atividade intelectual de um filósofo do século terceiro d.C. se parece muito com a nossa: para ele, já havia clássicos incontornáveis que lhe colocavam questões a serem respondidas, forneciam algumas respostas e os conceitos para responder as questões novas. A teoria plotiniana do tempo é uma boa amostra disso: Plotino tenta explicar o que Platão quer dizer com sua famosa frase “o tempo é a imagem móvel da eternidade” (Timeu 37D), refuta a definição de Aristóteles (“o tempo é número do movimento”, Física IV 11 219b) em termos aristotélicos, e chega à conclusão de que “o tempo é a vida alma” (Enéada III. 7 [45] 11). Por outro lado, como contemporâneo, também acho fascinante vê-lo debater-se com problemas estranhíssimos e que não fazem nenhum sentido para mim, como o da alma dos corpos celestes e que tipo de memória a alma desencarnada pode ter.
-
Você acha que a leitura da literatura e da filosofia antigas ainda seja capaz de causar incômodo ou algum sentimento de identificação aos leitores do nosso tempo, principalmente entre os mais jovens? Ademais, você acha que produções contemporâneas como Percy Jackson e os Olimpianos, God of War, Fúria de Titãs ou mesmo jogos de RPG seriam portas de entrada para esse universo de textos?
Sim, acho e não tenho dúvida de que a leitura da filosofia e da literatura antigas é capaz tanto de incomodar os leitores de agora quanto fazê-los identificarem-se com autores tão distantes. E acho que a identificação e o incômodo advêm da mesma causa: da constatação da perenidade de certos temas e de como foram tratados com maestria bem antes de nós. Uma coisa é certa: os gregos e os romanos eram virtuoses da linguagem. Em poucos momentos ou lugares da história a linguagem e seus recursos foram dominados dessa forma. Qualquer escritor minimamente consciente da sua arte se deslumbra com a capacidade cinematográfica que Homero tem de contar uma boa história, ou com a sofisticada e falsa simplicidade de Catulo. Ou com alguns diálogos de Platão, que combinam elementos tão caros à vanguarda, como o emprego de personagens históricos numa estória fictícia e a discussão de temas filosóficos em obras de literatura. Isso, sem dúvida, só pode suscitar a identificação e o incômodo, especialmente o incômodo da sensação de não poder ir muito além do que já se foi. Mas não é verdade: sempre é possível ir além e ser original, mesmo atrelando-se fortemente à tradição – é o caso de T. S. Eliot, por exemplo, com sua técnica de colagem e citação, sempre em constante diálogo e releitura dos seus antecessores.
Não quero parecer excessivamente pernóstico, mas, como estamos falando da leitura dos clássicos, preciso falar pouco da qualidade dessa leitura e de tradução. Enquanto nosso acesso aos clássicos se dá apenas por meio de traduções, nosso contato é basicamente com conteúdo do que eles escreveram. Às vezes é o suficiente para o deslumbramento, o incômodo e a identificação; às vezes, não. Confesso que faz bem pouco tempo que passei a amar Homero, mais especificamente quando aprofundei minha compreensão do idioma grego e passei ler Homero com turmas avançadas de grego. Quando lia em tradução, sem conhecimento do grego, achava chatíssimo. Ninguém pense que se a gente pega qualquer autor antigo e sai lendo no original como se fosse a nossa língua! Não, pouquíssima gente é capaz disso. Mesmo assim, apenas um bom conhecimento do grego e do latim permite um vislumbre intenso da arte dos antigos, pois, como disse antes, sua destreza linguística é absurda. Uma tradução pode ser um tesouro em si mesma, e pode nos exortar para o original ou nos afastar dele; mas, por mais magnífica que seja, nunca vai substituí-lo. E, voltando à nossa cultura imediatista, a dificuldade de aprender o grego e o latim pode, claro, matar o interesse pelos clássicos.
Quanto à segunda parte da pergunta, sinceramente, não percebo nessas obras contemporâneas que você menciona nenhuma capacidade de aumentar o interesse pelos clássicos. Minha filha de onze anos e os colegas dela já assistiram a Percy Jackson e já jogaram God of War; mesmo sabendo que eu sou professor de língua e literatura gregas, jamais me fizeram uma pergunta sequer a respeito disso, nem me manifestam qualquer interesse ou dúvida em relação aos gregos. Claro que sempre vai funcionar com alguém. Mas acho que o problema está no que exatamente chama a atenção nesses filmes e jogos: eu tenho a impressão de que não é o que há de antigo nessas obras contemporâneas, mas sim o que há de contemporâneo nas obras contemporâneas. Isso mesmo, não disse errado. Porque, como já mencionei, Grécia e Roma são essencialmente civilizações da palavra; na Antiguidade, a palavra tem um poder de sedução, de persuasão, de encantamento, que não tem mais para nós, contemporâneos. Para nós, é a imagem que detém esse poder, não a imagem mental, provocada pela palavra, mas a imagem vista. Por isso, no fim, a semântica das imagens é menos importante do que a sua sintaxe; se são deuses gregos, nórdicos ou africanos importa e seduz menos do que o ritmo e a combinação das imagens exibidas. O sujeito que adora God of War vai gostar de outros games, não da Ilíada. Por isso, a atração pelos clássicos é maior quando estamos no meio que lhes é próprio: o da palavra. Quando alguém se interessa de verdade por filosofia ou literatura, ele é inevitavelmente arrebatado pelos clássicos. E é por isso que, enquanto houver filosofia e literatura, o passado será presente.
-
Fale aqui sobre aquilo que você sempre quis falar e nunca te deixaram.
Tenho sorte, sempre disse tudo que quis, nunca me proibiram. Você podia ter me proibido; assim teria falado menos, pois já falei demais. Para terminar, gostaria de dizer apenas que fico muito incomodado com uma postura de reverência incondicional aos clássicos (de todas as épocas). Não é para isso que eles servem, para nos oprimir, mas sim para nos libertar das amarras apertadas que o nosso tempo nos impõe, fornecendo-nos outras perspectivas. Vou terminar citando o que diz um scholar que admiro demais, Kenneth Dover, no belíssimo comentário ao Banquete de Platão que ele escreveu. Acho que ele ilustra muito bem o que eu quero dizer aqui e nas respostas anteriores: “o Banquete, como quase tudo que Platão escreveu, é sobre como a vida deve ser vivida; não apenas a vida de um ateniense antigo, mas a sua vida e a minha. Como ele é um pensador altamente original e um escritor de notável imaginação, habilidade, poder dramático e sensibilidade, vale a pena ler o que ele diz, e o mínimo que se espera de qualquer comentário a qualquer obra dele é que pergunte a respeito de cada passagem: o que ele quer dizer? por que ele o diz? procede? Seus valores, atitudes, suposições, anseios e paixões distintivos não são os meus, e por essa razão eu não acho seus argumentos filosóficos persuasivos sequer marginalmente. Muito do que foi escrito sobre ele está marcado, em minha visão, por um entusiasmo acrítico pelo abstrato e pelo imutável, como se um tal entusiasmo sempre e necessariamente propiciasse um acesso melhor à verdade sobre o homem, a natureza e a divindade do que o propiciado pelo particular, material e perecível. Uma consequência disso é que Platão algumas vezes é tido como aliado por pessoas que não gostariam do que iriam encontrar se observassem menos seletivamente e com mais precisão o que ele efetivamente diz” (Plato. Symposium, Cambridge University Press, 1980, pp. vii-viii).
¹ Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (1997), mestre (2001) e doutor (2006) pela mesma Instituição, é Professor (Associado 3) de Língua e Literatura Gregas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Letras Clássicas e Filosofia Antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Neoplatonismo, especialmente Plotino (c. 205 – 270). No momento, dedica-se à tradução integral das Enéadas de Plotino.