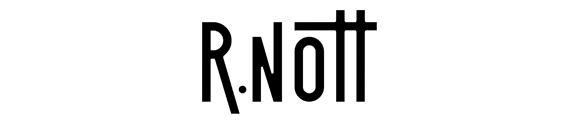[vc_row][vc_column][vc_column_text]
“Aí surge a figura do moleque de cabelão, colete jeans e “Against All Odds” no fone de ouvido.”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
A culpa é um negócio realmente fascinante. As definições passam pelo direito, pela psicologia e chegam, claro, até as religiões – está aí toda a mitologia judaico-cristã que não me deixa mentir. Você pode argumentar o quanto quiser para se eximir da culpa, claro. Pode negar as leis. Pode negar os estudos de comportamento. Pode até negar – veja só! – a existência de um deus que está sempre certo e que faz com que você se sinta sempre errado.
Mas acontece que não adianta fugir: a culpa existe, está aí, e absolutamente ninguém está livre dela durante toda a vida. Porque a culpa, meu amigo, funciona com base em um sistema de discursos dominantes. Isso quer dizer que se você fizer – ou sentir – algo errado (ou que pareça errado), de acordo com algum conjunto de regras específico, você tende a se sentir culpado por isso.
O conceito de guilty pleasure surge daí. Inventaram esse termo em algum país anglófono, e ele se refere, basicamente, àquelas coisas de que gostamos no íntimo, mas temos dificuldades de assumir em público, por medo do constrangimento. E quando a culpa entra no campo da música, eu duvido que você mesmo já não tenha passado por isso.
Se não passou, com certeza já viu por aí. O jazzista que não admite ter gostado de um refrão da Rihanna. O fã de MPB que afirma, para quem quiser ouvir, que “funk ostentação não é música”, mas conhece as letras do Guimê de cor, canta e dança quando toca na festa dos amigos. Os clichês se multiplicam de acordo com as situações. Podem ocorrer, inclusive, guilty pleasures que se dão entre subgêneros de um gênero comum, como o fã de death metal que execrava o new metal, ainda que sozinho em casa se emocionasse ouvindo “Crawling” do Linkin Park. Não são tempos fáceis os que vivemos. Da forma que eu enxergo, os guilty pleasures se estabelecem basicamente em dois diferentes padrões: um relacionado à sensação de pertencimento, e um outro mais elitista.
Explico.
Sobre o primeiro – é natural que queiramos ser aceitos. E é por isso que, na ânsia de nos adaptarmos ao meio, inventamos alguns gostos e suprimimos outros. Oras, pra fazer parte de um grupo você precisa ser parte de um grupo, e isso inclui se vestir do mesmo jeito, pensar parecido e ter gostos semelhantes – o que torna meio difícil explicar pro amigo fã de Motörhead e AC/DC que você gosta de Mariah Carey. Aí surge a figura do moleque de cabelão, colete jeans e “Against All Odds” no fone de ouvido.
E o segundo, bom… O segundo é um pouco mais perigoso. Porque ele lida com um ranqueamento musical imaginário. Uma hierarquia de gêneros, como se você fosse menor ou maior, de acordo com suas preferências. Como se apreciar sequências intrincadas de acordes tornasse o indivíduo mais culto; gostar de bateristas que tocam na velocidade da luz trouxesse iluminação; ou preferir samba “porque é uma expressão nacional” transformasse a pessoa imediatamente num herói brasileiro. (E isso, aliás, causa um outro sintoma chato, que é o do guilty pleasure irônico: aquele em que o sujeito esconde seus gostos atrás de uma película de humor. Ele não deveria, mas gosta – e finge que só gosta porque é engraçado. Você conhece alguém assim.)
A verdade é que, por mais que existam exceções, o tempo tende a nos livrar dessas duas condutas. O som que ouvimos deixa de ser definidor das nossas amizades, e a sabedoria ajuda a enxergar que ninguém é mais que ninguém (veja bem) por ouvir música cabeçuda. O tempo mostra que gostar de metal extremo não impede ninguém de assumir apreço pelo flow dos MCs de rap e que o ouvinte de jazz pode sim admitir que Spice Girls tem várias harmonias lindas.
Chega de guilty pleasures. Se orgulhe do que você ouve, seja mais leve. A vida já impõe tanta culpa pra carregar que não é vantagem nenhuma transformar a música que te dá prazer em mais um peso nas costas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]