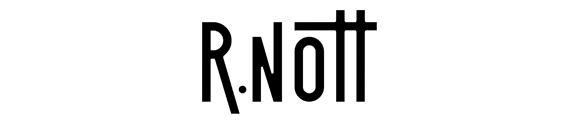imagem: Gustavot Diaz – Condições de investigação do olhar (2020)
Em resumo: se desenhar é ver, então desenhar é duvidar. Os grandes artistas históricos suspeitaram do que viram, duvidaram da realidade daquilo que viam, do que estava diante de seus olhos.
.
Se “desenhar é ver” – se a arte pode ser entendida em termos como “modos de ver”, conforme a famosa formulação de John Berger a partir de uma ótica sociológica (Berger era socialista), se aceitarmos, enfim esse quase clichê – desenhar é ver – temos então um problema pela frente. Como sabemos, a visão – experiência perceptiva complexa, se dá partir de coordenadas do mundo simbólico (linguagem) e de estímulos neuronais (parte fisiológica de recepção da luz pelo olho); só essas variáveis, difíceis de equacionar, são suficientes para evidenciar como ver e, portanto, desenhar podem ser atividades complexas.
Muito facilmente se pode reconstituir estímulos neuronais e coordenadas simbólicas de modo a criar experiências “falsas”. Coloco o adjetivo entre aspas, pois nenhuma experiência é falsa. Simulamos experiências o tempo todo: uma simples live que assistimos nas redes, os bits no monitor que simulam uma presença através de imagens, o som de nossa voz ao telefone, etc – a fim de criar experiências perceptivas visuais ou auditivas. Essa simulação permanente de experiências em nosso cotidiano se revela óbvia no cinema, nos games, ou ainda em experiências menos ortodoxas com psicotrópicos ou alucinógenos (a psilocibina, por exemplo, é cada vez mais comum em tratamentos psíquicos e garante, afirmam os usuários, uma experiência não apenas de realidade – certa consciência de estar interagindo com a realidade em si, mas algo ainda “mais real que a realidade”). É antiga a consciência de que nossa experiência perceptiva deve ser constantemente posta em xeque.
Em resumo: se desenhar é ver, então desenhar é duvidar. Os grandes artistas históricos suspeitaram do que viram, duvidaram da realidade daquilo que viam, do que estava diante de seus olhos. Esses questionamentos – mais ou menos radicais, foram, inclusive o motor das escolas artísticas.
A questão da arte nas últimas décadas não mais se concentra, como em toda a história desde a Renascença, sobre a forma; ou melhor, sobre a conquista da luz. Esta, que no passado foi a ignição de movimentos estéticos, condicionou fortemente as duas abordagens da forma até hoje: bidimensional e tridimensional (ou linear e pictórica), de modo que a História da Arte bem poderia ser contada como a história do domínio da luz).
Da luz ao olho, do olho ao sujeito
A mudança mais óbvia foi quando a luz zenital da Renascença que iluminava igualmente a tudo (reflexo da harmonia formal proporcionada pela perspectiva que, organizando o espaço, organizava também a incidência da luz) cedeu lugar ao chiaroscuro Barroco. Porém uma disputa entre essas abordagens já estava em curso e foi reeditada ao longo dos séculos, alternando sua hegemonia: Maneirismo (linear), Rococó (pictórico), Neoclassicismo (linear) Romantismo (pictórico).
A próxima escola seria o Realismo – quando Manet, questionando a modelagem tonal clássica, sumariou em suas obras os claros e escuros: ao invés do sfumato (degradê) tradicional, usou planos chapados, sem transição entre luzes e sombras. A vertente imediata – Impressionismo, diluiu a cor em razão de sua submissão à luz (os estudos de Óptica, em moda então na época, provavam que a cor é uma reverberação da luz, ou seja, um fenômeno subjetivo).

ÉDOUARD MANET, Retratos (detalhes)
Esta nova abordagem da luz era evidente sintoma de um novo sujeito, e expressão de um novo processo de subjetivação em andamento. Seria estranho se não houvesse algo desse tipo, afinal, uma nova ordem social nascia: o capitalismo industrial.
Uma vez questionado o processo de iluminação clássico (ou seja, a cor como concebida pela tradição), quem o passo decisivo para o Modernismo foi Cézanne: restou a ele questionar o processo de elaboração do desenho, então centrado na “perspectiva”.
Tudo isso esgarçou o laço entre artista e visualidade. Entre olhar e ser olhado, entre sujeito na pintura e o objeto da pintura – tudo isso alargou as possibilidades de significados às interações de artistas e modelos. O Expressionismo que se seguiu provou o desgaste, ao menos naquele momento, das formas convencionadas de desenhar e pintar, incapazes de formular e produzir os significados que o momento demandava.
Não à toa, esse fora precisamente o contexto de surgimento da Psicanálise, que forneceu os elementos que desmontaram o conceito de “identidade” percebendo que a identificação é passageira e o descentramento do sujeito não permite algo como um “igual a si mesmo” no qual ele sempre se reconheça (princípio do conceito de identidade). No lugar de uma identidade estanque, veio a noção de “processos de subjetivação”.
Hoje não é mais a sensibilidade e natureza da luz o que importa saber. Importará sim ao estudante, mas como questão técnica que, uma vez assimilada, ganha importância secundária. Importa ao artista saber qual a natureza dos processos de subjetivação: “o que é aquilo que estou vendo”, “o por quê daquilo que vejo” e “por que o vejo do modo que vejo”. Proponho a reflexão de tais questões na atividade desenhística, pois embora inerentes a todo processo artístico, são normalmente desconsideradas por desenhistas.
Se estou desenhando um modelo, por que estou representando um modelo; por que ele está nessa pose; o que significa um modelo, o que significa o corpo, qual é minha percepção em relação a esse corpo, de que forma o percebo, qual a relação de subjetividade e intersubjetividade está em jogo aqui? Se não formos capazes de fazer perguntas – mesmo as mais óbvias, não seremos capazes de contribuir e intervir nessas questões que delineiam nosso tempo.
Processos de subjetivação, processos de visão:
Essa “subjetivação” (falamos aqui segundo alguns pressupostos da Psicanálise lacaniana) se dá através das imagens – ou, melhor ainda, das interações do sujeito com o mundo circundante e com as coordenadas simbólicas presentes na cultura. Isso tem muito a ver com a visão, pois “ver” também é uma operação que se dá a partir de interações com imagens – interações com o mundo das formas.
Se desenho, vejo; se vejo, me relaciono com o visto; altero, portanto, a condição de ambos: um se faz sujeito e objeto do outro. Assim como a criança diante da própria imagem refletida (“estádio do espelho”, conforme a definição de Lacan) reúne condições de existir na linguagem e ser, enfim informada de sua existência física e subjetiva – momento em que ela se torna “ela mesma”, Desenhar é um exercício de alteridade, onde o desenhista se constrói enquanto desenha, na medida mesma em que seu modelo o possibilita.
E assim como a subjetivação se qualifica mediante o nível e teor dessas interações, também a qualidade da minha visão se dará a partir da profundidade de interação entre mim e meus modelos – ou seja, entre o eu e os modelos que ele elege (sejam quais forem esses modelos). Como diz Gonçalo M. Tavares: “se olho pra onde todo mundo olha, não sou escritor; se coloco o ouvido onde todos estão a colocar o ouvido, não sou escritor.”
O Desenho e suas coordenadas
Na videoaula falamos da coordenada estruturante do Desenho, fundamental na codificação tridimensional da figura: o contraste. Sendo este uma convenção abstrata, o Desenho é, assim, não “cópia do real”, mas a criação de uma interpretação da forma a partir de sínteses operadas no código comum da linguagem visual. Logo, enquanto criação o Desenho é produto de escolhas conscientes do desenhista – ele escolhe, dentre o infindável ferramental e repertório das linguagens, os elementos que tornam visível aquilo que antes não era.
Valendo-se de processos de simulação, o artista então produz experiências. Daí que ver é sofrer uma “experiência visual”. Ao desenhista caberia (con)verter em termos de linguagem; identificando dentre os elementos da gramática, aqueles que melhor simulam essa experiência para que ela possa ser compartilhada. Desenhar é contar uma história: há histórias complexas, que criam de tal modo nelas próprias as experiências de seus personagens, que as sentimos por nós mesmos, e elas não mais carecem se remeter ao mundo fora da linguagem, ao “mundo real”. E, assim como há histórias que preenchem os quesitos de verossimilhança criando sua própria regulagem crítica, há também histórias que objetivam remeter-se a um dado ocorrido: são relatos objetivos, quase jornalísticos que dão apenas uma noção pálida daquilo a que se remetem. Curiosamente, essas que se propõem serem imparciais, ou mais “fiéis à realidade”, são as que menos transmitem as experiências que formatam essa realidade.
Por isso a arte informa melhor sobre um evento e não há evento que a arte não transfigure. Afinal, desenhar (assim como contar uma história) não é reproduzir o “real”; desenhar é convertê-lo em uma linguagem, fazendo que ele funcione nela. E para isso, é preciso usar de simulações e substituições, é preciso alterá-la de todos os modos, para que ela pareça verossímil.
Diremos de outra forma: o contraste – principal coordenada do Desenho, se confunde com a estrutura da própria visão (ou experiência perceptiva); mas, sendo esse elemento central de síntese no Desenho uma convenção, um código da linguagem visual, o contraste estabelece um acordo entre desenhista e observador no qual este suspende provisoriamente o juízo e acredita estar vendo um volume no papel –tridimensão que ele originalmente não possui. Sendo convenção, o contraste, vertebral ao Desenho, é uma arbitrariedade linguística, uma abstração. Por esse motivo, Desenho nunca é “copiar o real”, nem “representar a realidade”. Desenho é síntese, uma vez que depende de linguagem, e como tal, é resultado de escolhas conscientes do desenhista, que então se vê na condição alterar a realidade para que ela pareça verossímil.
O Desenho funciona como a poesia da arte, pois para desenhar é necessária uma mudança no ser que desenha: de fato, é preciso transformar-se para ver. Apresentando um ponto de vista, o artista nos coloca no lugar de observadores de novas perspectivas… e assim nos transforma em sujeitos de novas experiências, dando-nos a conhecer a nós mesmos e também aqueles que nos habitam e não conhecíamos. Assim é que a arte intervém nos processos de subjetivação e o desenho é o que permite ao olhar funcionar.