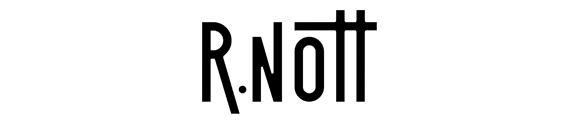O amor pelo áudio, enquanto paixão, pode levar a esses excessos. De fato, o que move os chamados audiófilos é o anseio irrefreável pela reprodução mais perfeita possível de um evento musical.
.
Ao ouvir a palavra “audiófilo”, a primeira imagem que surge na mente de muitas pessoas é a de alguns senhores de idade avançada, geralmente profissionais liberais endinheirados, membros de uma seita secreta que se notabiliza pelo estranho culto a equipamentos de som. Entre outras estranhezas, a mais estranha é que os objetos de culto da seita, produzidos com componentes eletrônicos que custam poucos dólares, valem, dadas as suas propriedades mágicas, o mesmo que um bom carro mediano, no caso de um amplificador ou de uma caixa acústica, ou mesmo um apartamento, no caso do conjunto de equipamentos, que recebe o nome sagrado de “sistema”. Além disso, essa seita discute, desde priscas eras, com uma neurose digna dos filósofos, os mesmíssimos problemas complexos, inescrutáveis como o mistério da santíssima trindade, e que fariam corar qualquer medievalista: a questão metafísica do que faz um amplificador ser perfeito, assim como a diferença ontológica entre o analógico e o digital, sem contar a querela clássica entre a válvula e o transistor. Como não poderia ser de outra forma, essas questões são discutidas no interior de um vocabulário esotérico, composto de sintagmas misteriosos, como “sound stage”, “equilíbrio tonal”, “toe-in”, propriedades físicas empíricas, como “distorção harmônica total”, e até mesmo transmutações alquímicas que contradizem o princípio escolástico de que “Ex nihilo nihil fit” (do nada nada se cria), como os acréscimos de dados onde na fonte digital nada havia: “upsampling”.
A essa imagem, soma-se aquela, proveniente de engenheiros e profissionais de áudio. Para estes, que objetivam, com duro labor, transpor para os equipamentos de áudio de forma precisa, flat, o que foi gravado no estúdio, esses Rosa-cruzes e maçônicos da entidade sonora nada mais seriam que otários que pagam fortunas por equipamentos que são apenas fruto de puro marketing e mistificação. No fim, seria apenas uma forma tardia de expressão de filhinhos de papai que, ao envelhecer, trocaram seus autoramas, ferroramas e videogames (dependendo da geração), por outras formas de ostentação. Ou seriam como aqueles milionários que exibem suas Ferraris (nome aliás de uma loja do setor), sequiosos em aparentar status e sofisticação, refletidos, é claro, nos seus amplificadores McIntosh caríssimos (aliás, esta empresa chegou a produzir som automotivo… para a BMW, é claro). Por esse ponto de vista, a audiofilia e o chamado High-End nada mais seriam do que uma forma de HI-FI estilo varanda gourmet, uma espécie de som de butique.
Confesso que isso existe, e que já presenciei muitas dessas situações: médicos famosos que esqueciam a ciência e compravam equipamentos que prometiam não sei que atividade quântica, sistemas cuja soma valia mais que o apartamento em que eles estavam, e audições nas quais não se ouvia sequer uma faixa de disco inteira, porque a questão mesmo era discutir a qualidade sonora do equipamento (ou talvez apenas exibir seus totens e externar seus tabus). Além disso, revistas que apresentavam “testes” em que nenhum dado técnico era levado em conta, e nas quais o maravilhoso aparelho de dezenas de centenas de reais que era testado aparecia, páginas depois, como objeto de publicidade da própria revista. A lista não tem fim, e parece ter brotado de algum livro de Jorge Luis Borges: cabos fantásticos, acessórios revolucionários, circuitos eletrônicos maravilhosos, todos eles prometendo uma experiência única, um Tlön sonoro particular, normalmente descrito como uma transposição hiperrealista do evento musical. Uma espécie de mundo de Oz sem Kansas (mas certamente com um mágico charlatão, distribuidor de uma marca de equipamento ou resenhista de revista com um jabá bem pago).
É evidente que essa imagem é uma caricatura. Contudo, como toda caricatura, ela não apenas distorce; também ressalta um traço já existente em seu modelo. O amor pelo áudio, enquanto paixão, pode levar a esses excessos. De fato, o que move os chamados audiófilos é o anseio irrefreável pela reprodução mais perfeita possível de um evento musical. Para isso, recorrem a equipamentos de empresas pequenas ou médias, que realmente produzem aparelhos de áudio de primeira linha, seja pelos projetos dos circuitos, seja pelo uso de componentes eletrônicos de qualidade. Acrescente-se a isso um cuidado com o acabamento, de metal, raro hoje no império do plástico. Como a produção não é em grande escala, e por ostentarem a aura de luxo e sofisticação, objeto de desejo de gente com boas condições financeiras e pouco conhecimento técnico, muitos desses equipamentos possuem um preço exagerado. Em resumo, os audiófilos, como a Dorothy do filme, sonham em encontrar algo “somewhere over the rainbow”, nem que para isso tenham de pagar um pote de ouro.
Nem todos os equipamentos Hi-End entregam tudo o que prometem, mas, sem dúvida, são equipamentos que tecnicamente são Hi-Fi: reproduzem com fidelidade o que está gravado, com baixíssima distorção (mesmo em volume alto) e com riqueza de detalhes. Numa gravação, por exemplo, é possível ouvir o som do prato da bateria com precisão, assim como inflexões sutis da voz de uma cantora ao microfone. Além disso, o famoso “palco sonoro” (a distribuição tridimensional do som dos instrumentos) é bastante definido. Os graves não borram e os agudos não machucam. Mas, last but not least, há um segredo escondido a sete chaves pelos mais exibicionistas: é possível ser um audiófilo sem ser rico (ou pelo menos meio audiófilo, ou ainda um quarto audiófilo, como brincava um amigo meu). E posso provar isso por minha própria experiência (que não sou rico dispensa provas).
Minha primeira experiência com um som de boa qualidade se iniciou no mesmo dia que ganhei meu primeiro salário. Corri para uma loja e comprei um receiver da Sony e duas caixas bookshelves da JBL. Mas logo notei algo curioso: o receiver parecia não conseguir empurrar os alto-falantes das caixas direito, apesar de sua alegada centena de Watts. Para piorar a situação, quando eu passava pela porta de meu vizinho enquanto ele ouvia Chico Buarque, parecia que o próprio Chico estava na sala dele, tal a presença da voz e dos instrumentos. Tal como o Espantalho do filme, comecei a pensar naquilo…
Nesse ínterim, já me instruindo sobre áudio, lendo resenhas de produtos, numa viagem a trabalho me joguei para a célebre Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, que possui um comércio voltado, na verdade, para o áudio profissional. Daí eu descobrir atrás dela a Rua dos Andradas, direcionada para a venda de produtos de segunda mão, foi, literalmente, um pulo. E foi lá que vi, pela primeira vez, com meus próprios olhos, relíquias sagradas da audiofilia: uma caixa acústica da Tannoy e um amplificador integrado da Rotel. Como não tinha dinheiro para os dois, e sabia que o problema estaria no meu receiver, além de a JBL ser uma marca de tradição no ramo, comprei o que os audiófilos mais abonados chamavam, com certo desprezo, de “rotelzinho de trezentos dólares”.
Chegando em casa, liguei o bichinho nas caixas JBL, e fui ouvir “Festa Imodesta”, cantada por Chico Buarque. Um mundo se abriu para mim. Como o Homem de Lata do filme, meus olhos marejaram. A voz de Chico estava mais presente, a percussão e o trombone, tudo mais vivo, bem distribuído e forte. O que não quer dizer volume, pois o Rotel, com seus míseros 30 Watts, com Distorção Harmônica Total de 0,5,%, rendia muito mais que o Sony de 100 Watts, com suposta Distorção Harmônica Total de 0,7% (não que a Sony seja uma marca ruim, evidentemente, mas seus produtos populares, a cada dia que passa, servem apenas para piscar LEDs e produzir distorção). Ou seja, é possível ter uma experiência de reprodução musical boa por valores razoáveis. Basta encontrar um produto com as características mínimas já mencionadas: um bom projeto e bons componentes. Até hoje me lembro do contraste entre os dois aparelhos, e essa faixa do disco de Chico se tornou minha canção-padrão quando vou ouvir um aparelho pela primeira vez. Desnecessário dizer, esse foi meu caminho de Damasco e minha conversão. Assim como o Leão do filme, tomei coragem e fui falar com meu vizinho, que, curioso, foi logo correndo ver meu rotelzinho, me deu algumas dicas sobre a disposição das caixas e desde então fui aprendendo também com ele, que passou a me levar a tiracolo nas sessões dos audiófilos da cidade de Salvador (como toda seita, cada um tem de ter seu guru e seu ritual de iniciação).
O aparelho de meu vizinho, que tanto me impressionava, também não custava uma fábula, o que serviu, para mim, como introdução aos acessórios e ao mundo do vintage. Tratava-se de um amplificador valvulado e painéis DIY bem rústicos, com falantes de Alnico de meio século, estilo Klangfilm (equipamentos para áudio de cinema fabricados por empresas como a Siemens). O CD-Player era um DVD-Player Sony antigo, usado como “transporte”, isto é, apenas a parte mecânica, e a saída digital era ligada a um DAC (conversor digital analógico externo), que fazia o trabalho de processar o áudio. Ele tinha também um toca-discos célebre (se eu não me engano, o Garrad Model 301), mas que, pelo estado de conservação externo, não deve ter custado muito. Como dizia outro personagem antológico do meio audiófilo de Salvador, quando me vendeu um toca-disco um tanto batido, “é para ouvir, não é para olhar”.
Depois fui aprendendo outros truques, que provam que é possível ser um audiófilo pelo lado da paixão e não da exibição. Por exemplo, um segredo dos mais secretos, que revelo agora: existem os chamados T-Amp (pequenos amplificadores baseados num circuito integrado da empresa Tripath), de baixíssima potência (10 Watts, no máximo), mas com uma sonoridade comparável a modelos centenas de vezes mais caros. Como diz um dos mandamentos de seita, “o mais importante é o primeiro Watt”. Então basta ligá-los a um alto-falante de alta sensibilidade (raros hoje, mas comuns na época em que só havia amplificadores a válvula) que qualquer pessoa que não precise ter um trio elétrico em casa terá uma experiência muito boa. Tive um T-Amp chamado Charlize (sim, como a atriz), uma plaquinha vinda diretamente de Cingapura para ser montada em casa, que eu usava com falantes Siemens da década de 50 (dica e falantes provenientes de meu vizinho, de quem, a essa altura, já tinha me tornado cliente). A propósito, isso é fundamental: não há como se tornar audiófilo sem se tornar comerciante. Porque, na busca incessante pelo som perfeito, cada um acaba acumulando diversos equipamentos em casa, que passam a ser revendidos e trocados (interessado? fale comigo!).
Depois de praticamente quinze anos nessa jornada de fé e perseverança, fui chegando à conclusão, por experiência e apoiado no melhor site que temos no Brasil sobre o assunto (http://hifiplanet.com.br/blog/, infelizmente não atualizado ultimamente), que não existe a reprodução inteiramente precisa de um evento musical ao vivo. O que podemos esperar é ou uma reprodução flat (fiel à gravação no estúdio) ou colorida segundo nosso gosto pessoal e nossas características fisiológicas. Todo aparelho de som acrescenta alguma coloração, que lhe dá uma característica particular, que pode resultar numa aplicação específica e atingir um gosto particular. Eu, por exemplo, como ouço mais – mas não exclusivamente – música popular, prefiro aparelhos que reproduzam as faixas médias com grande detalhe; como frequências agudas me incomodam, ainda estou à procura de um aparelho que tenha um som que, metaforicamente, chamamos de “quente”, com agudos (o que já é uma metáfora) menos “cortantes” (os valvulados em geral favorecem esse som). No fundo, tal como descobriram o Homem de Lata em busca de um coração, o Espantalho em busca de um cérebro e o Leão em busca de coragem, não precisamos de nenhum mágico de Oz para alcançar o som que queremos, porque o que esperamos do som já está, de alguma maneira, em nós.