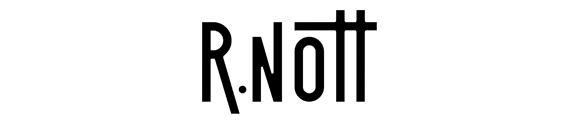[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Imagem: Rembrandt – São Jerônimo em um quarto escuro
[/vc_column_text][vc_column_text]Tarik Alexandre apresenta seu trabalho literário no R.You! deste mês. Num processo nostálgico-sensorial, caminhe dentro desse universo que parece um entrelugar da memória de Proust e um cheiroso café da manhã num filme dos Studios Ghibli.
[/vc_column_text][vc_column_text]
“O fio se dá como um rosto no qual as faces são um mapa de uma tessitura do tempo: o nascer da malha.”
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Sem dúvida, o meu primeiro sonho como artista era ser desenhista. Achava de habilidade surpreendente aqueles que gostavam de traçar seus pensamentos mais profundos e cristalinos nos traços de um rosto ou de uma paisagem. Entretanto, aprendi a desenhar pelos modos da saudade usando das letras como um lampião. Conhecer o efeito do Tempo é o saber que bifurca entre evanescente e o perpétuo. Creio que seja o melhor modo de para começar o que me costuma vir à mão para escrever.
_
Já lá algumas vezes me acomete pensar a respeito de meu trabalho. Aliás, isso deve ser o modus operandi mais que frequente e fecundo da maioria das pessoas sobre si mesmas e seus trabalhos. Não raro sentamos no sofá, olhando as quinquilharias da estante ou da mesa de chá e as usamos como pedras de toque para os lugares curiosos do nosso coração no que compete àquela atividade que exercemos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]É um movimento de nosso corpo um tanto involuntário, como que repleto do mistério de um acontecimento desmedido e suscitador do improvável na banalidade de uma xícara de café ou das vinhetas do rádio. Numa percepção atenta ao fútil, às decorações particulares e as diposições dos móveis, encontramos um lugar sui generis, carregado de uma expressão única e até mesmo fascinante a respeito daquele pensamento que nos rondava e não conseguíamos muito bem concatená-lo.
_
Quando menino meu apreço pelos presentes era algo notório: eu guardava meus brinquedos mais preciosos nas próprias embalagens plásticas para que não pudessem perder seu viço. Era de um saudo-preciosismo tal que, muitas vezes, era preferível o não-brincar para não retirar o seu toque mágico de quando o encontramos pela primeira vez. A preservação de um ritual que constituía um sentido perpétuo era apreciado e conservado para que, sempre que quisesse acessá-lo, estivesse ali, cativo. Pensar, aqui, era um tanto mais com as vistas e as mãos, expondo o que guardava em meus armários à luz para notar o detalhe, o minucioso do trabalho despercebido de um carrinho ou dos palhacinhos feitos em vidro e que tinham seu reduto espirituoso, o talhe de um semblante, um esforço sentimental em prol do sorriso dos brinquedos como os traços marcantes das jóias. A matéria resguarda a força profunda de um estado de coisas marcado por traços mágicos e de memória. Assim, por toda a vida fui um admirador de coleções e estantes abarrotadas (como as de meu quarto) cheias dos pequenos souvenires, pois nelas haviam explicações interessantes sobre o que eram estes amuletos e brinquedos criadores de pensamento: dar-se conta do memento mori e que nele se encerra o sentido de nós mesmos.
Ironicamente, a maior parte de minha infância se constituiu da solidão, convivendo com a nossa natureza ser muito de segundas e sábados, lidando com os mementos nas estantes de minha casa ou nos adornos das cristaleiras. Lembro-me perfeitamente quando garoto de quando ganhei uma simples caneta dourada de minha avó. Ela, muito atenta ao meu desejo, a comprou por certo prazer em me ver escrever os nomes em papéis de rascunho e se incomodou ao notar, naquele tipo de intento de crianças xeretas, que eu estava desmontar a caneta para ver como ela funcionava. Apesar de uma bronca suave, dessas que os avós desfilam o ensinamento dado aos pais com uma sinfonia mais bem orquestrada pela paciência, ela havia me ensinado o prazer que existe no misterioso. E desse mistério, compreendê-lo se tratava justamente de não destrinchar sua mágica oculta ao desrosquear a caneta e olhar o tubo de tinta. Meu pai, como marceneiro, frequentemente me levava a sua oficina e vê-lo entalhar a madeira causava profunda impressão, pois naquelas mãos surgia a demiurgia das belezas que paravam nas casas dos outros, ganhando uma história peculiar para aqueles que o iriam usar. Diante do silêncio das máquinas e dos meus olhos entre o tédio e o mistério, emergia em mim o desejo cintilante do criar maravilhoso, da felicidade em forma de beleza de relicário. Delirar era preciso.
Como toda a magia (e trabalho), assim como edificava perante os meus olhos, também se dissolvia em um sopro sutil. O Tempo destrói tudo. A morte já cedo passeava nos cantos da casa, entre as preguiças de menino, os bocejos de estranho sossego com trejeitos de domingo. Aos poucos veio derruir no fim das pessoas, da velha casa, dos relicários e se estendeu numa vertigem tamborilante de torneira de cozinha. A foice entre os meus se consolidou, vaporosa, e desapareceu num vazio. Toda lembrança é da ordem do terrível. Da felicidade restou algo muito distinto, turva de olhos míopes. Compreender meu intuito de trabalho tocava este ponto: a nervura entre as coisas idas e do reflexo delas enquanto vivências vindouras. Havia em mim a preocupação pelo armanezar entre os armários do coração qualquer coisa que fosse repleta do sentimento profundo.
Não pude então nunca mais deixar este ofício do efêmero que circundava meus bolsos das calças sem que eu propriamente o pedisse. Todos os dias ouvia de meus travesseiros: Há de escrever! E para isso gostava dos meus tempos sozinho. Estar só não se tratava de um vazio, pelo contrário: solitário, podia eu revisitar os lugares repletos das coisas e das gentes queridas que vagavam flutuantes pelo peito. Encontrava-os num todo nos meus passeios de fim de tarde após os estudos, ou nos antiquários jantares de família, um tanto vetustos pela própria raridade. Diante de mim a solidão se abatia no emprego de uma multidão de sussurros de coisas e pessoas a seu modo pela caneta dançante. Tratar de escrever me alçou de modo desprevinido, quase que acidental: gostava de apreciar para mim mesmo nos fundos das apostilas lembranças dos instantes perdidos pelo Tempo em garranchos. Não demorou muito para que minha vontade se voltasse a pessoas como Blake, Rilke, Nietzsche, Proust, Pessoa e Guimarães Rosa e visse ouvir deles suas histórias e os problemas de bala raciocinada.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]
Escrever se tornou a vertigem de origem num delírio melancólico em doses de felicidade breves, efêmeras e de repetição tal qual num cristal. Bailantes, entre a caneta e amuletos, traçava o desenho das florestas dos pensamentos, com a fauna dos afetos e o revisitava assim que os pudesse, como emoldurados numa mesa de cabeceira, no álbum de fotos do caderno. Eis a dualidade: escrever sobre o instante que se esquece e perpetuamente se rememora. Se abre, como um sonho de leveza, na escrita da saudade.
Tarik Alexandre, 23 anos, é professor do Ensino Médio e mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”5681″ img_size=””][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]
MOIRAS
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]No horizonte levanta o hálito das chaminés sonolentas, despertando preguiçosamente pela manhã. Suspirando, saem das cobertas, arrepiadas, buscando aquecer ao longo das caldeiras, enchendo os êmbolos com o sereno de uma noite sonhada. Os olhos baixos, de sono, crepitam as caldeiras, espreguiçam-se, sentindo a disposição do dia que se inicia tímido, com afagos de café da manhã, cintilantes. Aprumadas, soltam as alavancas e, com os dentinhos, as engrenagens tratam de mover as polias para se aninhar aos apuros das correias, bailando. Correm, desfilam rodopiantes na paixão célere pelo fiar em linhas minuciosas, enroladas nos carretéis. O fio se dá como um rosto no qual as faces são um mapa de uma tessitura do tempo: o nascer da malha.
Fumegantes, com o sol a pino, desenlaçam o ebulir das caldeiras, com os êmbolos ofegantes: o piso da tecelagem coberto pela bruma da tinturaria. Levitam as moças todas, fervendo e imergindo os carretéis aos sonhos em delírios de carmim, beijos de violeta mansinhos num verdejar de boa textura. Soltam elas os carretéis, e em novelos envolvem-se as tramas dos desejos que, etéreos, nos são conduzidos pelas mãos das operárias flutuantes como um sopro das lembranças mais fugidias de jardins. Conduzidos pelos dedos, juntam os fios em ternos abraços rendados, colorindo paisagens de ornamentos para mesas de chá, salas de estar, dengosas, que tocam com os pés as pétalas das flores em estampas. Na trama da malha há o misterioso mundo dos adornos, de folhagens que se multiplicam em raízes incontáveis das maravilhas peças do destino: qual é o último recanto de pétala no qual se encerra o fio? As polias correm famintas, ruborizando fábrica adentro a densa névoa da vida em tecido. Não há enredo que não nos toque no mais íntimo de nós senão aquele que por cada paragem a vereda da trama nos é imprevisível e, custosamente, nos fazemos por adivinhá-la através das cores que competem ao fado de nossas malhas.
As chaminés bocejam, é dado o crepúsculo enfim. As correias passeiam e as engrenagens, sedentas, rangem tagarelando tolices de fim de dia aguardando graxa. Os êmbolos levemente suspiram, cansados, os últimos vapores falados, convictos de cada palavra empenhada. As malhas acabadas chegam às caixas, embaladas, cindidas uma a uma para que a fábrica, sonolenta, se cale para uma noite profunda, eterna. Os fios? Repousam tranquilos, dobrados pelos parágrafos, aguardando mãos que os manuseiem os textos acabados diante dos móveis, entre os sonhos e as estrelas, se aninhando ao esquecimento.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”62px”][vc_empty_space height=”62px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]
SÁBADO DE MANHÃ
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Na doçura das manhãs, despontando cedinho os afagos da luz esbranquiçada saem uma a uma as vassouras pelos portões do sábado. Silentes, deslizando atrás das senhoras com os braços descobertos, enrodilhadas pelos afagos dos cães de rabo abanando no caminho da torneira.
Ficam paradas, olhando atentamente a água que se despeja nos baldes vermelhos e azuis, verdes e laranjas. Gorgoleja a água miúda na torneira torpe, realça o viço sorriso das pétalas das roseiras e os miúdos gracejos das violetas que margeiam a calçada todas bobas de poder se refrescar logo pela manhã. A água cai, tamborilando como na cuba da cozinha para o almoço e ela irradia o sol para fora de si, brilhando nas bordas dos baldes. Rodeado de água, refrata pouco a pouco os baldes irisados na luz, como num espelho, da vizinhança toda nas suaves valsas da rotina do fim de semana.
Juntam-se os grãos do sabão, levitando os mistérios da espuma, sussurrando para o balde a sua graça enquanto cresce. E lá se vai nos dedos da vassoura, passando, contando dessas lorotas de esfregão para as tímidas nuvens do céu. As plantas se banham se beijam orvalhadas com os retoques caprichosos da dona de casa, levitando risadas pelas bolhas de sabão, secretas como os sorrisos de amor e de mãe.
E sentado ficava, com os pés a balançar no banco da varanda, nas folgas da escola, vendo o dia passar. Brilhando o sol ia pela vizinhança toda, com a água escorrendo pelos cantos da rua, em linhas de tessituras de pequeninas confissões domésticas, em prelúdios do maravilhoso nas ocasiões do banal, aguardando a hora do almoço.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”62px”][vc_empty_space height=”62px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]
MELANCOLIA
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]É tarde. Ora, como é tarde. A gente toda se foi e eu fiquei emaranhado entre as cobertas, escondido por entre as malhas no escuro. Da janela só se via o píer reluzente ao longe sob a luz dos postes que ululava num tintilar das pratarias da chuva. Pelas coifas do telhado, com som abafado e melancólico vindo do forro, os dedos do frio abriam as fechaduras e ele sentava ao meu lado, respirando calmo e silencioso. Segurando as pontas de minhas mãos começava a contar histórias de chuva dançante, do bailar da solidão. E com seus olhos baixos nos fazia entender o efêmero nas ondas do píer imitando lampião, brilhantes e intermináveis como de profundeza de nossas cabeças por entre as penas dos travesseiros – de sentimento distante, borboleante do corpo. “Quando dormimos”, dizia ele, “alçamos os tesouros do oceano dos sonhos: sentimo-nos habitar por eles de modo que flutuam na superfície de nosso corpo, lampejando em gestos e balbucios do sono os segredos deste mundo.” Botando as mãos em meus olhos, eu levitava pelos cobertores remando no breu de um mar reflexo, oblongo e de seda. Nele, emergia o tatear dos lençóis e rodeado pelos braços, rolávamos no prado das estrelas, sorrindo como que repletos da saudade do não vivido, no véu do mistério de uma paisagem sem imagem, das sensações entrelaçadas de um amor sem rosto. E efêmeros como um beijo, o frio nos trazia de volta para casa, nos emaranhados do sofá revolto com as mãos ao peito, com os lábios calorosos do sonho, dotados de um dobrão de ouro.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”62px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]