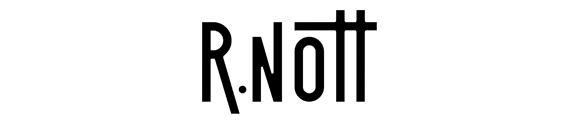[vc_row][vc_column][vc_column_text]
“O que é excitante na doutrina do fluxo heraclítico é que ela nos faz pensar que toda e qualquer experiência musical que temos é única, não pode ser repetida. Mesmo aquela música que sabemos de cor, que escutamos trinta vezes consecutivamente todos os dias, nos propiciará experiências distintas a cada vez”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Panta rhei: tudo flui. É uma ideia que imediatamente associamos a Heráclito. Na paráfrase de Platão (Crátilo 402A), a mais antiga que conhecemos: “Heráclito diz algures que todas as coisas se movem e nada permanece, e, comparando a realidade ao fluxo de um rio, diz que você não poderia entrar duas vezes no mesmo rio”.
Não me interessam tanto, agora, as dificuldades filológicas para determinar o que Heráclito de fato disse – cotejando as versões dessa ideia em Cleantes (apud Ário Dídimo apud Eusébio), no alegorista Heráclito, em Plutarco e em Simplício – nem as dificuldades filosóficas para saber o que exatamente isso significa – tudo, tudo mesmo está em constante mudança? Se nada permanece idêntico, como o conhecimento é possível?
O que é excitante na doutrina do fluxo heraclítico é que ela nos faz pensar que toda e qualquer experiência musical que temos é única, não pode ser repetida. Mesmo aquela música que sabemos de cor, que escutamos trinta vezes consecutivamente todos os dias, nos propiciará experiências distintas a cada vez: ora cantamos junto, ora prestamos atenção na linha de baixo; depois a ouvimos à noite, ou no verão; quando bêbados, acompanhados, ou tristes, e assim por diante. As combinações das circunstâncias são infinitas, e tantos serão os rios em que entraremos.
Nenhuma experiência auditiva será, rigorosamente, idêntica. Entretanto, por outro lado, as audições serão sempre experiências absolutamente distintas umas das outras? Depende? Talvez? Às vezes? Não idênticas, mas semelhantes? Se tudo está em fluxo, certo é que o nosso fluxo – ou melhor, o fluxo que nós somos – é bem mais violento do que o das coisas que não ouvem música e que o da própria música. Só isso explica por que o amor ou o ódio por uma mesma música ou disco aumentam ou diminuem a cada audição, a cada ano, a cada década. Aparentemente, pelo menos em condições ideais, a reprodução fonográfica desafia a hipótese de que tudo flui, pois todas as condições técnicas materiais podem ser perfeitamente reproduzidas e serão, assim, idênticas: resta, então, que a parte seguramente fluida nessa história somos nós.
Certo, tudo isso é meio óbvio. Mas há algo – ainda óbvio – na singularidade das nossas experiências auditivas que é um tipo de nascimento. Só a singularidade das experiências pode produzir a “irrepetibilidade” de uma experiência: não estou pensando na impossibilidade de reproduzir uma experiência insignificante e banal, por mais singular que ela seja, mas sim na impossibilidade de repetir experiências auditivas únicas e singulares que são radicais, transformadoras, originárias. Não falo da experiência de ouvir aquela música do Barry White que tocava quando você conheceu o amor da sua vida, ainda que ela também tenha a sua singularidade. Falo de experiências que sejam como a do som primordial, uma saída do silêncio intrauterino para o ruído do mundo – experiência da qual ninguém se lembra, mas que sem dúvida deve ter sido de uma radicalidade incomparável.
Não sei se essas experiências acontecem na vida de todas as pessoas; nem há garantia de que aconteçam com pessoas que gostem, ouçam e conheçam música de verdade. São experiências que estão mais próximas de experiências místicas – e não uso a palavra em sentido corriqueiro –, experiências de encontro, de unificação, de gozo, de arrebatamento, mas experiências que não dependem apenas da nossa vontade de querer tê-las. Como as experiências místicas descritas por Plotino, João Escoto Erígena, Ibn Arabi e tantos outros. Há condições, circunstâncias, preparações para que a experiência aconteça; e ela, se acontecer, repito, não acontecerá porque nós quisemos que ela acontecesse, mas porque calhou que assim fosse.
No caso da música, entre tantos outros, os elementos da experiência singular são – em vez da virtude, da penitência, da fé, da infinita bondade divina, por exemplo – o histórico de audições prévias, o estado de espírito ao ouvir, a qualidade da reprodução sonora, a sorte de encontrar certa música em certo momento da vida.
Mesmo ouvindo muita música e vivendo em busca de coisas abstrusas, não tive mais que três experiências desse tipo – elas mesmas, nem precisaria dizer, bem diferentes entre si. Acho que a mais marcante foi há uns vinte anos, quando ouvi pela primeira vez o disco Trout Mask Replica, do Captain Beefheart (Straight Records, 1969). Não sabia do que se tratava. Quando coloquei o disco na agulha, o que saiu de lá não tinha paralelo nenhum, não se parecia com absolutamente nada, e era melhor do que tudo. Ouvi o disco, que é duplo, umas cinco ou seis vezes compulsivamente. Nem água bebi.
É uma sorte ter experiências como essa, mas não deixa de ser um pouco melancólico também. Daria tudo para experimentar de novo a sensação de ouvir o disco pela primeira vez – naquelas circunstâncias em que o ouvi. O disco continua entre meus preferidos ainda. É uma madeleine de si mesmo, que provoca reminiscências de um prazer extremo, mas irrecuperável.
****
Não posso deixar de mencionar e agradecer Diego Dias e Queta Satt pelas conversas que resultaram neste texto.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]