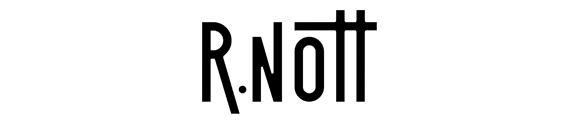[vc_row][vc_column][vc_column_text]O Rock n’ Roll segue por aí, mas onde foi parar a mística, para onde foram os heróis? De overdose ou de aids, ou simplesmente aposentados, fato é que muitos deles sumiram, dando espaço para uma nova era do Rock, que ainda custamos a entender.
[/vc_column_text][vc_column_text]
“A idade de ferro não concebe mais Guitar Heroes. O glamour dos gênios da guitarra deixou de ser parte do pensamento midiático do estilo.”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Você pode não ter percebido ainda os ventos da mudança passando por entre os fios dos seus cabelos, os clamores da guerra cada vez mais sussurrados, os tambores cada vez menos animalescos, os vocais cada vez menos distintos, e cada vez menos solos alucinados de qualquer coisa. Você pode não ter percebido que há cada vez menos solos de guitarra.
Sim, senhores, a era dos heróis acabou.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]A guerra que o Rock n’ Roll vem travando há algumas décadas parece ter perdido em força e rebeldia, assim como em termos de heróis e de aura. Longe de ser mais um dos velhos profetas que anunciam o fim do estilo, considero que já tenhamos dado o passo definitivo da idade dos heróis em direção à idade de ferro: nossos heróis já morreram no campo de batalha e conquistaram os céus – ok, vários deles morreram de overdose, outros tantos só sumiram ou cortaram o cabelo – e, de qualquer modo, fizeram fama, alcançaram a glória imperecível em troca da vida curta, viraram constelações. O Rock n’ Roll fez a sua própria mitologia.
E sossegou.
Um dos traços característicos desse gênero “eternamente jovem”, e que parece ter se perdido – andamos meio velhacos ultimamente –, sempre foi a invenção de figuras imortais, simbólicas. Da genialidade incendiada e fulminante de Hendrix ao Zeppelin do deus-dourado e do cara das roupas de dragão e do peixe-espada; de Morrison a Janis; de Keith Moon a todo o Rush; do mago moreno Richie Blackmore ao delinquente Axl; do mago polaco Rick Wakeman a Nancy Wilson, que muito antes da fase These Dreams e do aparecimento de bandas como Vixen – quatro louras e uma morena, todas fatais –, já derretia multidões com solos longos e cabelos ao vento; assim também Coverdale.
Freddie Mercury.
Nos anos 80 o Rock e a ‘atitude’ tornam-se mainstream. Legiões de cabelos aloirados sobem ao patamar dos heróis. Eddie Van Halen, Adrian Vandenberg, Steve Vai, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani. Embora bastante mais encaixotado, o Rock se manejou de alguma maneira com a imposição do novo mercado. Novas lendas se criaram. De Mötley Crüe ao rock-pop de Roxette e Duran Duran.
O mito do Guitar Hero só se agigantou ao longo de apenas três décadas, tornando mitos os que escreveram de punho próprio uma história que por muito tempo não foi ditada por regras de mercado – demasiado simplificadas, pelo bem do “grande público” – e que representaram sonhos de liberdade de gerações. A própria aparição pública desses “monstros sagrados” aparentava-se a aparições de cunho divino, a revelações, a epifanias. Palcos, fogos, flashes e telões apenas reforçaram o que já estava criado no espetáculo musical. O Rock alimentava-se da tensão libertária: Steve Harris tinha um contrabaixo metralhadora; Simmons, um machado sangrento. Não era a simples aparição de estrelas, de empoadas bonecas de Hollywood, de galãs.
O paralelo com o mito das raças de Hesíodo não é de todo despropositado, como pode ter parecido ao atento leitor. Considerado por muitos como um estilo morto, o Rock atravessa agora uma fase bastante conformada. Já há muito deixou de ser o foco da famigerada indústria musical, que ultimamente tem preferido reinventar Madonnas sangrentas e clones canadenses do pequeno Jordy, para sobreviver apenas alternativamente – em releituras pop, indie, disco, etc., rotuladas como “grande-gênero: Rock” – ou fugindo ao underground, onde legiões de músicos ao redor do mundo mantêm algo dessa chama acesa com novas bandas, bandas cover, tributos, mas sem ir muito além disso. Obviamente, vários dos antigos monstros sagrados continuam perambulando por aí. Notavelmente, as grandes turnês dos últimos anos têm sido de tributo à própria história e carreira, turnês que não lançam mais discos, mas que consistem num best of. Embora atrativas pelo conteúdo, tudo mudou, da idade avançada aos figurinos de pretinho-básico, e ver uma dessas bandas hoje representa, acima de tudo, imaginar o que foram as fases de auge.
Não se pode negar que a era dos heróis do Rock n’ Roll se findou nos 1990, com a dispersão da atenção dada pela grande mídia ao estilo, e com um último grande herói, aquele que com uma camisa xadrez inaugurou em Seattle o último grande movimento. Desde então o que vivemos é uma tentativa de recuperação do passado, uma melancolia nostálgica. Strokes e seus pares já se inserem na onda retrô, Killers e Franz Ferdinand sampleiam, eletronizam. O estilo volta-se a si mesmo e não inventa. Como disse Alejandro Dolina, o louvor à própria história é marca certa da decadência. A grande mídia, a grande indústria, trazem o Rock de novo ao mainstream, mas mesclado ao Pop, mesclado a tudo. Gaga é Rock, Renner, C&A e Zara são Rock, e chifrinhos com os dedos aparecem tanto nos shows do Kiss quanto nos festivais de reveillón da Globo. As guitarras distorcidas e os cantos guturais não assustam mais ninguém.
A idade de ferro não concebe mais Guitar Heroes. O glamour dos gênios da guitarra deixou de ser parte do pensamento midiático do estilo. A imortalização passou a outros setores, para a mitificação de Gagas e Biebers – este último com uma atitude revoltosa controlada, cercada e protegida por seguranças. Outros, que intentam recriar atmosferas “rocnkroll” de outros tempos, simplesmente falham. As músicas não podem ter mais que quatro minutos. Os solos devem ser tímidos e controlados, se é que ainda aparecem. O rompante de criatividade não entra nas salas das grandes gravadoras.
A era da hiper-individualização tecnológica culmina na introspecção do Rock. Ele volta-se a si mesmo com timidez, relembrando os tempos áureos, repetindo-o de maneira comportada, com mais notas altas no colégio e menos mobiliário hoteleiro pregado no teto. Escasseiam-se os símbolos, mais deles morrem, pouco ou nada aparece, e a lenda do Guitar Hero parece cada vez mais distante. Não se sabe o que soa nos fones de ouvido pelas ruas. A hiper-individualização e a era da customização criaram também bandas que se adaptem ao estilo individualista, com a multiplicação de bandas underground para um público que valoriza o original, único, marca estética fundamental da customização. Poucas bandas atingem status celestes. Poucas delas chegam a ser globalmente relevantes em termos de aura, talvez com poucas exceções – Arctic Monkeys, Jack White? Mesmo assim, nada se vê de novos símbolos imortais e sagrados.
Em tempos de vida personalizada – comida personalizada no Subway; apps personalizados em celulares e pcs; carros e times de futebol personalizados no videogame, bem como o compartilhamento online de performances, scores e vídeos; rpgs online com personagens personalizados; playlists personalizadas via qualquer site de música; TV personalizada com a programação da operadora ou com o Netflix; a moda fashion, tida em geral como ‘ditadora’ e impositiva, passando por um período, mais do que em qualquer outro, de liberdade de tendências e encaixe em todas as formas de customização particular, onde praticamente tudo é possível desde que represente a sua personalidade original. Tudo aponta para a personalização também da vida musical. Ouvir as suas bandas, que você mesmo descobriu, é mais importante do que ouvir os top10’s. Por outro lado a grande mídia se esforça, e sempre com algum sucesso, em processar a sagração de novas estrelas. Na música pop o procedimento é em geral mais bem sucedido.
O Rock parece impedido de gerar novas imortalidades. Ou parece incapaz? Mais do que nunca os heróis sagrados do passados permanecem sagrados, e cada vez mais no passado. Embora no auge da era hiper-individualista, milhares ainda se unem em homenagem a bandas de gerações passadas, que vêm acabando aos poucos, ou que já se foram. Apenas nesse estilo existe tamanho esforço em relembrar esses heróis. Algo existe aí de maior, de valoroso, embora não saibamos explicar bem o quê. Felizmente, ainda temos algumas oportunidades de ver alguns desses heróis ao vivo, mesmo que estejam com bengalas ou já em sobrevida. Me pergunto, e deixo a pergunta, o que será de nós e da música quando isso também já não seja mais possível.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]